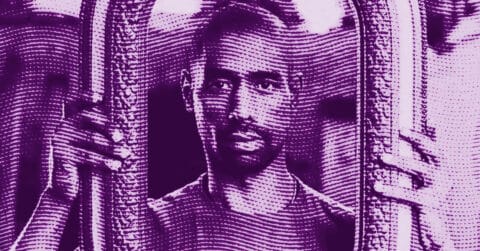Ouçam-me bem, bando de snobs, vou falar-vos de Aya Takano, nascida em 1976 em Saitama. Esta artista japonesa, que surgiu como uma flor de cerejeira mutante no jardim demasiado bem organizado da arte contemporânea, merece que se lhe preste uma atenção especial.
Imagine por um momento o Japão dos anos 1980, onde a sociedade de consumo explode como um fogo de artifício capitalista num céu saturado de néons. É neste contexto que Aya Takano desenvolve o seu universo artístico, povoado por criaturas andróginas que parecem saídas de uma experiência de laboratório mal sucedida. As suas personagens com membros desmesuradamente longos, com articulações vermelhas como cerejas maduras, flutuam num espaço onde a gravidade é apenas uma sugestão educada. As suas telas são janelas abertas para um mundo onde a física newtoniana está de férias permanentes, onde as leis do espaço-tempo se moldam aos caprichos da sua imaginação desbragada.
A artista inspira-se no conceito filosófico japonês de “mono no aware”, essa consciência aguçada da impermanência das coisas, para criar obras que oscilam entre melancolia e maravilhamento. As suas personagens, frequentemente nuas, não estão lá para satisfazer os nossos instintos baixos, mas sim para nos recordar a nossa vulnerabilidade fundamental. Flutuam em espaços urbanos ou cósmicos como astronautas à deriva, simbolizando a nossa própria errância num mundo onde os marcos tradicionais se desfazem como açúcar num chá verde quente demais.
Na sua série emblemática “The Jelly Civilization Chronicle”, Takano transporta-nos para um futuro onde a rigidez da nossa civilização se liquefez. Os edifícios, os veículos, até os utensílios de cozinha transformaram-se em formas gelatinosas, maleáveis, lembrando estranhamente as teorias do filósofo Zygmunt Bauman sobre a “modernidade líquida”. Esta visão de uma sociedade em perpétua mutação ecoa a nossa própria época, onde identidades e certezas se dissolvem no ácido da modernidade galopante.
A sua técnica pictórica, que mistura a delicadeza das estampas ukiyo-e com a crueza do manga contemporâneo, cria um diálogo fascinante entre tradição e modernidade. As suas cores pastel, aplicadas em camadas translúcidas como véus de seda sobrepostos, constroem atmosferas oníricas que recordam as teorias do filósofo Walter Benjamin sobre a aura da obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Cada tela torna-se um portal para um universo paralelo onde a realidade se dobra aos caprichos do imaginário, onde as fronteiras entre o possível e o impossível esbatem-se numa névoa de cores suaves.
A catástrofe de Fukushima em 2011 marcou uma viragem decisiva no seu trabalho, como um terramoto artístico que abalou as suas certezas estéticas até às suas fundações. Ela abandonou a acrílica pela óleo, um material mais “natural”, diz ela, numa busca de sentido e autenticidade que transcende as simples considerações técnicas. Esta mudança de meio reflete uma consciência mais profunda: a arte não pode mais contentar-se em ser um simples espelho deformante da realidade, deve tornar-se um vetor de transformação social e ambiental, um catalisador de mudança num mundo à beira do precipício ecológico.
A sua obra “Que todas as coisas se dissolvam no oceano da bem-aventurança” (2014) ilustra na perfeição esta evolução. Nesta composição monumental, humanos, animais e infraestruturas industriais coexistem numa harmonia improvável, como uma utopia ecológica onde a tecnologia finalmente encontrou o seu lugar correto. É um manifesto visual que ecoa as teorias do antropólogo Philippe Descola sobre as relações entre natureza e cultura, uma visão de um mundo reconciliado consigo mesmo, onde a humanidade finalmente aprendeu a dançar com os seus demónios tecnológicos em vez de os combater.
Os críticos ocidentais muitas vezes quiseram ver no seu trabalho uma simples extensão do movimento Superflat iniciado por Takashi Murakami. Que erro monumental! É redutor e até insultuoso para uma artista que soube criar uma linguagem visual única, onde a ficção científica convive com a mitologia com uma graça desconcertante, onde o erotismo roça a inocência sem nunca cair na vulgaridade barata. As suas criaturas andróginas transcendem as categorias de género, propondo uma visão pós-binária da humanidade que ressoa particularmente com os questionamentos contemporâneos sobre a identidade e a fluidez dos géneros.
A influência dos romances de ficção científica que ela devorava na biblioteca paterna é evidente, mas vai muito além da simples citação ou do tributo superficial. Ela cria aquilo que o filósofo Jean Baudrillard poderia ter chamado de “simulacros encantados”, representações que já não procuram imitar a realidade, mas criar uma nova, mais elástica, mais poética, mais inclusiva. A sua arte é um exercício de reinvenção perpétua, uma dança na linha entre o real e o imaginário.
Nas suas obras mais recentes, como “Vamos tornar o universo num lugar melhor” (2020), Takano vai ainda mais longe na sua exploração dos limites entre realidade e ficção. Ela desenvolve aí uma nova cosmogonia pessoal onde as leis da física se dobram às exigências da poesia. As suas personagens já não se contentam em flutuar, transcendem literalmente as restrições da matéria, tornando-se seres de pura luz num universo em perpétua expansão. Esta evolução recente do seu trabalho lembra as teorias do filósofo Gilles Deleuze sobre o devenir e a multiplicidade, onde o ser já não é definido pela sua substância, mas pelo seu potencial de transformação.
O seu tratamento do espaço urbano é muito interessante. As cidades que ela retrata não são as mega-cidades ansiosas do cyberpunk clássico, mas jardins verticais onde a natureza recupera os seus direitos de maneira inesperada. Os arranha-céus transformam-se em estruturas orgânicas, as estradas tornam-se rios de luz, e os espaços públicos metamorfoseiam-se em terrenos de jogo para as suas criaturas etéreas. Esta reinvenção da urbanidade ecoa as teorias do arquiteto Rem Koolhaas sobre a cidade genérica, subvertendo-as de maneira lúdica e poética.
A utilização de cor que Takano faz é igualmente revolucionária. As suas paletas pastel, que poderiam parecer piegas nas mãos de alguém menos habilidoso, tornam-se sob o seu pincel instrumentos de subversão subtil. Ela utiliza a suavidade cromática como um cavalo de Troia, introduzindo elementos perturbadores em composições aparentemente inocentes. Esta estratégia lembra as teorias de Roland Barthes sobre a neutralidade como forma de resistência, uma abordagem que permite enganar as expectativas enquanto evita o confronto direto.
A sua relação com o corpo humano é particularmente fascinante. As proporções impossíveis das suas figuras, com membros alongados e cabeças sobredimensionadas, não são meros caprichos estilísticos. Elas representam uma tentativa deliberada de redefinir os cânones da beleza e da humanidade. Num mundo obcecado com a normalização dos corpos, as suas criaturas celebram a diferença e a estranheza com uma alegria contagiante. É um ato de resistência estética que ressoa com as teorias de Judith Butler sobre a performatividade de género e a construção social das normas corporais.
A dimensão narrativa do seu trabalho é também notável. Cada tela é um romance visual em potência, uma história que se desenrola em múltiplas direções simultaneamente. Esta abordagem multidimensional da narrativa lembra as experimentações literárias do Oulipo, mas transpostas para o domínio visual. As suas obras são máquinas para gerar histórias, dispositivos narrativos que convidam o espectador a tornar-se co-criador do sentido.
Em Takano, o tempo não é uma flecha unidirecional, mas uma substância maleável que se dobra sobre si mesma. Passado, presente e futuro misturam-se numa dança complexa que evoca as teorias do físico Carlo Rovelli sobre a natureza ilusória do tempo. As suas personagens parecem existir num presente eterno, libertas das restrições da cronologia linear.
Nas suas últimas obras, Takano explora cada vez mais a noção de comunidade e interconexão. As suas personagens, embora individualmente distintas, parecem partilhar uma consciência coletiva, como se ligadas por fios invisíveis que transcendem o espaço físico. Esta visão de uma humanidade interligada ecoa as teorias do sociólogo Bruno Latour sobre as redes de atores e a natureza coletiva da existência.
Aya Takano não é simplesmente uma artista que pinta sonhos, ela é uma arquiteta que constrói pontes entre o nosso mundo rígido e um universo onde a fluidez reina. A sua arte lembra-nos que a realidade, como as suas personagens flutuantes, pode ser apenas uma questão de perspetiva, e que a gravidade, quer física quer social, pode ser apenas uma convenção da qual podemos libertar-nos. Num mundo que parece caminhar para a sua perdição, a sua obra oferece-nos uma lufada de ar fresco, um espaço de respiração onde a imaginação pode finalmente desdobrar as suas asas sem medo de se queimar ao sol da razão.