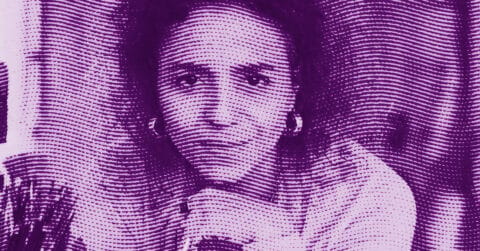Ouçam-me bem, bando de snobs. Banksy (nascido em 1974) não é o messias que esperavam, nem o anticristo que alguns denunciam. Ele é o sintoma perfeito de uma época que confunde a facilidade da mensagem com a profundidade do pensamento, o buzz mediático com a pertinência artística. Nas ruas de Bristol como nas paredes de Gaza, as suas obras provocam-nos com uma ironia tão evidente que se torna quase insuportável. E, no entanto, não consigo deixar de ver nelas o reflexo exato do nosso zeitgeist contemporâneo, um espelho estendido a uma sociedade que oscila constantemente entre rebelião e conformismo, entre desejo de subversão e submissão ao mercado.
Comecemos por dissecar esta obsessão do artista pelo desvio dos símbolos do poder, que constitui a assinatura do seu trabalho desde o início dos anos 90. As suas ratazanas maliciosas que invadem os nossos espaços urbanos não são alheias à conceção do poder de Michel Foucault, essa força difusa e omnipresente que se infiltra nos mínimos recantos da nossa sociedade. Quando Banksy pinta os seus roedores equipados com máquinas fotográficas ou câmaras de vigilância, ele não está apenas a criar uma imagem impactante. Ele materializa a teoria do panóptico de Bentham, retomada por Foucault, onde o poder se exerce pela simples possibilidade de ser observado. A vigilância torna-se assim a personagem principal de uma sociedade que se observa a si mesma através do prisma distorcido dos ecrãs e das objetivas.
Mas onde Foucault teorizava a complexidade dos mecanismos de controlo social com uma finesse cirúrgica, Banksy serve-nos metáforas pré-deglutidas, imagens chocantes que atingem forte mas por vezes ao lado do alvo. Tome o seu “Girl with Balloon” vendido em leilão na Sotheby’s em 2018 por 1,4 milhões de euros antes de se auto-destruir parcialmente. O gesto é brilhante na sua conceção, uma crítica acerba ao mercado de arte, mas tão calculada que se torna ela própria um produto de marketing a mais. Esta performance recorda estranhamente a teoria de Guy Debord sobre a sociedade do espetáculo, onde até a contestação se torna mercadoria. A obra despedaçada foi revendida por 18,5 milhões de euros em 2021, provando que o sistema tem uma capacidade infinita de digerir aquilo que pretende destruir.
Esta ambivalência fundamental atravessa toda a obra de Banksy como um fio vermelho sangrento. As suas intervenções na Palestina, nomeadamente no muro de separação, alcançam contudo uma dimensão mais profunda que transcende a simples provocação. Os seus trompe-l’oeil que parecem perfurar o concreto para revelar paisagens paradisíacas enquadram-se numa tradição filosófica que remonta à caverna de Platão. O artista mostra-nos literalmente como romper a ilusão, como ver para lá dos muros que construímos. Estas obras deixam de ser meros traços de espírito e tornam-se atos de resistência que questionam a própria natureza das nossas fronteiras físicas e mentais.
Há algo de Walter Benjamin nesta abordagem da arte como ferramenta política. Assim como Benjamin via na reprodução técnica uma possibilidade de democratização da arte, Banksy usa a reprodutibilidade inerente ao estêncil para difundir a sua mensagem. Mas, ao contrário de Benjamin que via nisso o fim da aura da obra de arte, Banksy consegue paradoxalmente criar uma nova forma de aura, a do efémero e do anonimato. As suas obras tornam-se ainda mais preciosas por poderem desaparecer a qualquer momento, apagadas pelas autoridades ou “salvas” por colecionadores pouco escrupulosos que não hesitam em cortar pedaços inteiros de paredes.
A sua técnica, o estêncil, merece atenção. Simples, eficaz, infinitamente reprodutível, permite uma rápida difusão e um reconhecimento imediato. Mas esta simplicidade técnica oculta uma complexidade conceptual que ecoa as reflexões de Jacques Rancière sobre a “partilha do sensível”. Ao escolher a rua como galeria, Banksy redefine os espaços onde a arte pode e deve aparecer. Ele perturba a hierarquia tradicional dos locais de exposição, criando o que Rancière chamaria uma nova “distribuição do visível”.
Esta tensão entre visibilidade e invisibilidade leva-nos ao cerne do segundo aspeto fundamental do seu trabalho: a sua crítica ao capitalismo consumista. As suas apropriações de marcas e paródias publicitárias inserem-se na linha das análises de Jean Baudrillard sobre a hiper-realidade. Quando Banksy transforma o logo da Disney numa imagem de pesadelo ou quando coloca um Ronald McDonald gigante ao lado de uma criança faminta, ele não cria apenas um contraste chocante. Revela o que Baudrillard chamava de “simulacro”, essa realidade construída pelos media e pela publicidade que acaba por substituir o real.
A sua instalação “Dismaland” de 2015 leva esta lógica ao absurdo. Este “parque de diversões familiar inadequado para crianças”, como ele próprio o descrevia, é uma desconstrução magistral das nossas sociedades de lazer. Ao transformar os símbolos da felicidade pré-fabricada num pesadelo distópico, Banksy junta-se às análises de Herbert Marcuse sobre o homem unidimensional, preso numa sociedade que cria necessidades artificiais para melhor o controlar. Os empregados deprimidos a usar orelhas do Mickey, o castelo da Cinderela transformado numa ruína apocalíptica, os barcos telecomandados cheios de migrantes: cada elemento é uma crítica àquilo que Marcuse chamava de “dessublimação repressiva”, esta forma que o sistema tem de neutralizar toda a contestação transformando-a em entretenimento.
Mas aqui está o problema: ao brincar com os códigos da sociedade mercantil, Banksy tornou-se ele próprio um produto. As suas obras são vendidas a preços altíssimos nas galerias mesmo denunciando esse sistema. Esta contradição não deixa de lembrar a crítica de Theodor Adorno à indústria cultural: mesmo a contestação mais radical acaba por ser recuperada pelo sistema que denuncia. Os estênceis de ratos rebeldes acabam em t-shirts vendidos nas grandes superfícies, as imagens de revolta tornam-se posters decorativos nos quartos dos adolescentes.
O anonimato de Banksy, longe de ser uma simples postura de marketing como alguns afirmam, pode ser interpretado como uma tentativa de resistência a essa apropriação. Ao recusar-se a encarnar fisicamente a figura do artista, ele ecoa as teorias de Roland Barthes sobre a morte do autor. A obra existe independentemente do seu criador, pertence àqueles que a observam, que a interpretam, que a fotografam com os seus telemóveis antes que ela seja apagada ou roubada. Esse apagamento voluntário do artista por trás da sua obra cria um espaço de liberdade interpretativa que lembra o que Umberto Eco denominava “a obra aberta”.
O seu trabalho no muro de Gaza ilustra perfeitamente essa dimensão política da sua arte. Ao pintar crianças que parecem perfurar o muro ou que se elevam acima dele graças a balões, Banksy não se limita a criar imagens poéticas. Ele materializa o que Jacques Rancière chama de “dissensus”, essa capacidade da arte de tornar visível o que não era, de fazer ouvir vozes que eram silenciadas. Essas intervenções transformam o muro de separação, símbolo de opressão, num suporte de expressão de liberdade e esperança.
O seu trabalho sobre a vigilância e o controlo social merece também uma análise atenta. As suas numerosas representações de câmaras de segurança, frequentemente acompanhadas por ratos que as provocam ou sabotam, fazem eco às análises de Gilles Deleuze sobre as “sociedades de controlo”. Essas sociedades, que sucederam às sociedades disciplinares descritas por Foucault, não funcionam mais por confinamento, mas por controlo contínuo e comunicação instantânea. As obras de Banksy sobre este tema não são meras denúncias, propõem táticas de resistência, formas de enganar a vigilância através do humor e da derisão.
A sua relação complexa com o mercado de arte revela outra dimensão do seu trabalho. Ao organizar vendas selvagens das suas obras por uns poucos dólares no Central Park, ao criar certificados de autenticidade que são eles próprios obras de arte, Banksy joga com os mecanismos de criação de valor no mundo da arte. Aqui, ele conecta-se às análises de Pierre Bourdieu sobre o capital cultural e simbólico. Quem decide o valor de uma obra de arte? Como esse valor é construído e legitimado?
A utilização recorrente da imagética infantil, menininhas com balões, crianças revistadas pela polícia, jovens manifestantes a lançar bouquets de flores, também não é inocente. Insere-se numa tradição da arte política que usa a inocência como arma crítica, lembrando o trabalho fotográfico de Lewis Hine sobre o trabalho infantil no início do século XX. Mas onde Hine procurava documentar uma realidade social, Banksy cria alegorias que jogam com as nossas emoções de forma por vezes demasiado calculada.
A questão da reprodutibilidade no seu trabalho merece também uma análise profunda. Ao escolher o stencil como técnica principal, Banksy insere-se numa tradição que remonta aos cartazes de Maio de 68 e ao trabalho de Blek le Rat. Mas ele leva essa lógica mais além, jogando conscientemente com os mecanismos de reprodução e difusão próprios da era digital. As suas obras são concebidas para serem fotografadas, partilhadas nas redes sociais, transformadas em memes. Esta estratégia de difusão viral ecoa as análises de Marshall McLuhan sobre os media como extensões do homem.
Estamos, portanto, perante um artista que utiliza a simplicidade aparente das suas imagens para transmitir mensagens complexas sobre o nosso tempo. Os seus ratos, as suas crianças, os seus polícias que se beijam são tantos espelhos estendidos a uma sociedade que muitas vezes prefere não ver o seu reflexo. Mas, por querer ser demasiado acessível, por procurar demasiado o efeito imediato, Banksy corre o risco de cair na armadilha que denuncia: a de uma sociedade que privilegia o impacto visual em detrimento da reflexão profunda.
Porque é aqui que reside todo o paradoxo de Banksy: ele é simultaneamente o crítico mais virulento da nossa sociedade do espetáculo e um dos seus representantes mais brilhantes. As suas obras são instantaneamente reconhecíveis, perfeitamente adaptadas à era das redes sociais, e no entanto pretendem denunciar essa mesma cultura da imagem. Ele cria imagens que modificam a nossa perceção do mundo, ao mesmo tempo que permanecem presas aos meios de difusão que criticam.
Banksy é talvez menos o génio subversivo que alguns veem nele e mais um notável sismógrafo do nosso tempo. As suas obras, com as suas mensagens simples e execuções eficazes, são o reflexo perfeito de uma sociedade que oscila entre o desejo de revolta e a submissão ao espetáculo. Ele tornou-se, apesar de si ou talvez voluntariamente, o artista que nos mostra como a própria rebelião pode tornar-se uma mercadoria. E talvez aí resida o seu maior sucesso: fazer-nos tomar consciência dessa contradição, embora ele próprio não escape às suas armadilhas. Num mundo onde a autenticidade se tornou a mais preciosa das falsificações, Banksy permanece o último ilusionista, aquele que nos mostra as cordas da manipulação enquanto as puxa com uma mestria consumada.