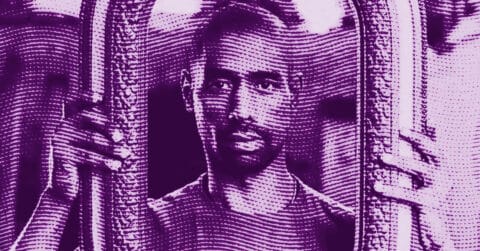Ouçam-me bem, bando de snobs, Camilla Engström (nascida em 1989) encarna esta nova geração de artistas que faz estilhaçar as convenções académicas com uma insolência refrescante. Esta sueca autodidata, que abandonou o Instituto de Tecnologia da Moda de Nova Iorque para se dedicar à arte, oferece-nos uma obra que oscila entre a provocação alegre e a meditação ambiental.
As suas paisagens metafísicas constituem o primeiro eixo do seu trabalho artístico. Através das suas telas com cores psicadélicas, Engström reinventa a natureza com uma audácia que faria os Fauves corar. As suas colinas ondulantes e vales sensuais lembram os desertos do sudoeste americano de Georgia O’Keeffe, mas onde O’Keeffe procurava a essência mística do deserto, Engström celebra a sensualidade pura da terra. Os seus sóis desmesurados, os seus vulcões com formas orgânicas e os seus céus em fusão criam um universo onde a natureza se torna um corpo vivo, palpitante. Esta abordagem ecoa as teorias de Maurice Merleau-Ponty sobre a carne do mundo, onde o visível e o invisível se entrelaçam numa dança cósmica. As paisagens de Engström não são meras representações, são manifestações do que John Berger chamava “a maneira como o mundo nos toca”. Nas suas obras recentes, o verde luxuriante da Califórnia Central mistura-se com as memórias das florestas suecas, criando hibridações cromáticas que transcendem a simples representação geográfica.
O segundo eixo da sua obra articula-se em torno de Husa, esta figura feminina rosa e voluptuosa que encarna o seu alter ego artístico. Esta personagem recorrente, cujo nome significa “dama de companhia” em sueco, representa muito mais do que uma simples provocação contra os cânones da moda. Husa é uma resposta contundente ao que Linda Nochlin descrevia como “a opressão sistémica das mulheres na história da arte”. Ao criar esta personagem de formas generosas que floresce em paisagens oníricas, Engström inverte os códigos tradicionais da representação feminina. Os seios de Husa já não são objetos de desejo, mas fontes de vida, nutrindo a terra com o seu leite numa metáfora poderosa da relação entre feminilidade e natureza. Esta abordagem ecoa as teorias de Lucy Lippard sobre a arte feminista dos anos 1970, atualizando-as para uma geração confrontada com as ansiedades do século XXI.
A artista transpõe as suas preocupações ambientais numa paleta cromática que desafia toda a convenção naturalista. Os seus céus magenta, as suas colinas roxas e os seus lagos com formas sugestivas flutuam num espaço pictórico onde a realidade e o imaginário se confundem. Esta abordagem recorda o que Roland Barthes designava por “efeito de real”, onde a própria distorção da representação reforça paradoxalmente o seu poder evocador. As paisagens de Engström não procuram imitar a natureza, mas capturar a sua essência vital, numa abordagem que não é alheia às experimentações cromáticas dos nabi.
A sua técnica, embora intuitiva, revela uma mestria crescente na pintura a óleo. As texturas cremosas das suas cascatas, as ondulações sensuais dos seus terrenos e a luminosidade intensa dos seus céus testemunham uma abordagem onde a matéria pictórica se torna por si só portadora de sentido. Esta manipulação da matéria recorda o que Arthur Danto descreveu como “a transfiguração do banal”, onde o ato pictórico transforma a simples representação numa experiência transcendente.
A influência da artista sueca Hilma af Klint é perceptível na abordagem espiritual de Engström, mas onde af Klint procurava representar o invisível através da abstração geométrica, Engström ancora a sua espiritualidade na celebração do mundo sensível. As suas paisagens alucinadas não são fugas à realidade, mas convites para redescobrir a nossa relação sensual com a natureza. Esta abordagem ecoa as reflexões de Gaston Bachelard sobre a imaginação material, onde os elementos naturais se tornam catalisadores da rêverie poética.
A obra de Engström insere-se numa tradição de artistas mulheres que utilizaram a paisagem como meio de subversão. Das aguarelas bucólicas de Rosa Bonheur às abstrações telúricas de Agnes Martin, esta linhagem de artistas reinventou constantemente a nossa relação com a paisagem. Engström continua esta tradição ao mesmo tempo que lhe insufla uma urgência contemporânea relacionada com a crise climática. As suas paisagens não são meras fugas estéticas, mas manifestações do que Félix Guattari chamava “a ecossofia”, um pensamento ecológico que une o ambiental, o social e o mental.
A dimensão performativa da sua prática artística, manifestada através das suas danças espontâneas no seu atelier partilhadas no Instagram, acrescenta uma camada adicional de significado à sua obra. Estas performances improvisadas recordam as experimentações do Judson Dance Theater, onde o movimento quotidiano se tornava um ato de resistência artística. Esta integração do corpo da artista no processo criativo ecoa as teorias de Rosalind Krauss sobre o índice na arte, onde o gesto físico se torna uma marca tangível da intenção artística.
Se alguns críticos poderiam estar tentados a reduzir o seu trabalho a uma simples celebração da alegria, seria perder a complexidade do seu discurso. Por trás da aparente leveza das suas composições esconde-se uma reflexão profunda sobre a nossa relação com o mundo natural e os corpos femininos. A sua recusa deliberada da estética do sofrimento, tão prevalente na arte contemporânea, constitui em si um ato político. Ao escolher celebrar a vida em vez de se compadecer da catástrofe ambiental iminente, Engström propõe uma forma de resistência através da alegria que não deixa de recordar as teorias de Gilles Deleuze sobre o poder afirmativo da arte.
Através das suas paisagens oníricas e das suas figuras libertadas, Engström cria uma arte que transcende as dicotomias tradicionais entre natureza e cultura, corpo e espírito, alegria e compromisso político. A sua obra relembra-nos que a transformação social também pode passar pela celebração da vida e pela reinvenção poética do mundo. Numa época marcada pela ansiedade climática e pelas crises identitárias, a sua visão radiosa oferece não uma fuga, mas um convite a reimaginar a nossa relação com o mundo vivo.