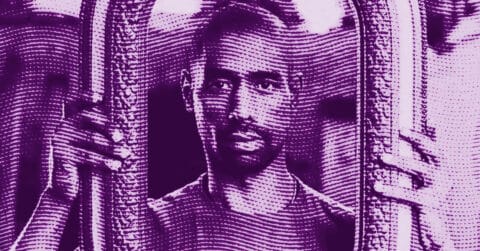Ouçam-me bem, bando de snobs. Está na hora de falar de Donald Sultan, nascido em 1951, este artista que conseguiu metamorfosear o alcatrão em ouro. Não o ouro dos especuladores ou dos mercadores de arte que pululam em Chelsea, mas o ouro negro da indústria americana, aquele que corre nas veias da nossa sociedade pós-industrial como o sangue nas nossas artérias.
Vamos começar pela sua série das “Disaster Paintings”, estas obras monumentais de 2,4 metros por 2,4 metros que nos enfrentam com a nossa própria hubris. Sultan não faz rodeios, ele pega em catástrofes industriais, incêndios em fábricas, descarrilamentos de comboios, e transforma-os em meditações visuais sobre a nossa civilização em declínio. Estes quadros são o nosso Guernica moderno, exceto que em vez de cavalos uivantes e mulheres lamentosas, temos silhuetas de fábricas que se destacam contra céus sulfúreos como espectros da nossa própria arrogância tecnológica.
Em “Early Morning May 20 1986”, uma das suas obras mais poderosas, o céu amarelo tóxico parece prestes a explodir, enquanto as estruturas industriais erguem-se como monumentos à nossa loucura coletiva. É como se Max Ernst tivesse pintado o apocalipse industrial, exceto que Sultan usa os próprios materiais desse apocalipse para criar a sua obra. O filósofo Paul Virilio falava do acidente como revelador da substância, as “Disaster Paintings” de Sultan são precisamente isso: revelações da própria substância da nossa modernidade.
O que é fascinante é a forma como Sultan manipula os seus materiais. Ele não se limita a tubos de tinta de 50 euros cada, comprados numa loja elegante do Marais. Não, ele usa alcatrão, massa, ladrilhos de linóleo, os materiais que constituem a estrutura das nossas cidades. Walter Benjamin falava da obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica; Sultan, ele, cria obras de arte com os próprios materiais dessa reprodutibilidade. É como se Heidegger tivesse decidido tornar-se pintor em vez de filosofar sobre a essência da técnica.
Veja “Plant May 29, 1985”. As chaminés das fábricas emergem de uma névoa de alcatrão como totens industriais. Sultan não ilustra simplesmente uma catástrofe, ele cria uma nova forma de sublime industrial. Edmund Burke falava do sublime como aquilo que nos ultrapassa e nos aterroriza ao mesmo tempo que nos atrai irresistivelmente. As obras de Sultan incorporam perfeitamente essa definição. Confrontam-nos com o terror da nossa própria criação, a indústria, ao mesmo tempo que nos seduzem com a sua beleza brutal.
Vamos agora abordar a sua segunda obsessão: as suas naturezas-mortas monumentais. Os seus limões pretos, as suas flores sobredimensionadas, as suas maçãs gigantes. Estas imagens não são meros exercícios de estilo ou homenagens respeitosas a Chardin ou Cézanne. Não, são golpes visuais que nos obrigam a reconsiderar a nossa relação com o mundo natural. Quando Sultan pinta um limão preto do tamanho de um pequeno satélite, ele não está apenas a brincar com a escala, está a criar um buraco negro visual que absorve todas as nossas certezas sobre o que deveria ser uma natureza-morta.
Na sua série “Black Lemons” de 1985, as frutas tornam-se presenças inquietantes, mais próximas das esculturas de Louise Bourgeois do que das naturezas-mortas tradicionais. O negro profundo do betume confere a estes limões uma presença física esmagadora. É como se Malevitch tivesse decidido pintar frutas, exceto que Sultan insufla às suas formas geométricas uma sensualidade orgânica que as torna profundamente perturbadoras.
Estas naturezas-mortas estão tão afastadas das composições tradicionais como os filmes de David Lynch estão das comédias românticas da Netflix. Sultan pega nos códigos clássicos do género e retorce-os até que eles implorem por clemência. As suas flores não estão aqui para nos confortar com a sua beleza efémera, estão aí para nos confrontar com a nossa própria mortalidade com a subtileza de um camião-cisterna.
A filósofa Susan Sontag escrevia que a arte deveria ensinar-nos a ver mais, a ouvir mais, a sentir mais. As obras de Sultan fazem exatamente isso, mas não da maneira que se esperaria. Ele obriga-nos a ver a beleza no desastre, a poesia na indústria, a transcendência no quotidiano. É como se Theodor Adorno tivesse encontrado Robert Rauschenberg num armazém abandonado em Detroit.
Pegue em “Forest Fire, 1984”. A obra captura não só a violência destrutiva de um incêndio florestal, mas também a terrível beleza dessa destruição. As chamas, representadas em betume negro e látex brilhante, dançam na superfície como sombras na parede de uma caverna platónica. Sultan obriga-nos a contemplar a nossa própria fascinação pela destruição, ao mesmo tempo que nos lembra da nossa responsabilidade nestas catástrofes ecológicas.
A sua técnica é tão brutal quanto inovadora. Ele começa por fixar azulejos de linóleo em painéis de Masonite, criando uma grelha rígida que sustenta todas as suas composições. Esta grelha não é apenas um suporte simples, é uma metáfora do nosso desejo de ordem perante o caos. Como dizia Michel Foucault, a grelha é uma das estruturas fundamentais do pensamento moderno. Sultan usa-a como ponto de partida, para depois a subverter com as suas vertentes de betume e salpicos de látex.
O processo é físico, quase violento. Ele verte o betume fervente, esculpe-o, risca-o, por vezes revelando a superfície do linóleo por baixo. É uma luta corpo a corpo com a matéria que recorda a action painting de Pollock, exceto que Sultan trabalha com materiais que poderiam matar um homem. O perigo é real, como era o perigo nas fábricas e minas que inspiraram o seu trabalho.
Em “Air Strike April 22, 1987”, uma das suas obras mais impressionantes, a violência do processo ecoa a violência do tema. As marcas de betume e os salpicos de látex criam uma atmosfera apocalíptica onde a distinção entre céu e terra, entre natural e artificial, desaparece completamente. É uma pintura que cheira a enxofre e suor, que nos lembra que por trás da nossa fachada de civilização esconde-se sempre a possibilidade do caos.
Sultan não é um artista que se contenta em representar o mundo, ele o reconstrói com as suas próprias mãos, utilizando os próprios materiais da nossa civilização industrial. Como o filósofo Gaston Bachelard escrevia sobre a matéria, ela não é passiva mas ativa, resistente, portadora dos seus próprios significados. Sultan compreende isso instintivamente. As suas obras não são imagens de catástrofes ou naturezas mortas, são catástrofes e naturezas mortas materializadas.
Tome as suas tulipas negras, por exemplo. Estas flores monumentais, realizadas com carvão sobre papel, não são simples estudos botânicos. São presenças físicas que ocupam o espaço com tanta autoridade como uma escultura de Richard Serra. O negro profundo do carvão cria zonas de escuridão tão densas que parecem absorver a luz como buracos negros. É como se Sultan tivesse encontrado uma maneira de dar uma forma material à própria melancolia.
E que dizer dos seus “Smoke Rings”, esses círculos de fumo que flutuam como halos tóxicos sobre fundos negros? Estas obras não são apenas belas, são inquietantes, como presságios da nossa própria destruição ambiental. O fumo, representado com uma precisão quase fotográfica, torna-se um símbolo da nossa desmesura tecnológica, da nossa capacidade de poluir até o céu acima das nossas cabeças.
O que é notável em Sultan é que ele mantém um equilíbrio precário entre ordem e caos, entre controlo e acidente. As suas obras são construídas com a precisão de um arquiteto mas contêm a liberdade de um expressionista abstrato. É essa tensão que confere ao seu trabalho a sua potência visceral. Como escrevia Georges Bataille, a verdadeira arte situa-se sempre no limite do que é possível, na fronteira entre a forma e o informe.
Os críticos que vêem no trabalho de Sultan apenas uma série de exercícios formais elegantes passam completamente ao lado do assunto. A sua obra está profundamente enraizada nas contradições da nossa época: o nosso desejo de ordem face ao caos envolvente, a nossa nostalgia da natureza face à nossa dependência da tecnologia, a nossa necessidade de beleza face à fealdade dos nossos desastres industriais.
Em 1999, Sultan foi convidado a criar uma instalação permanente para o Art’otel de Budapeste. Em vez de simplesmente pendurar alguns quadros nas paredes, ele transformou o hotel inteiro numa obra de arte total, concebendo tudo, desde as fontes aos tapetes, passando pelos robes. Foi como se Richard Wagner tivesse decidido tornar-se designer de interiores, mas Sultan criou o seu Gesamtkunstwerk, a sua obra de arte total, com materiais industriais em vez de notas musicais.
Essa capacidade de transcender os limites tradicionais entre belas-artes e artes aplicadas, entre pintura e arquitetura, é característica da abordagem de Sultan. Ele não respeita as fronteiras estabelecidas, usa-as como pontos de partida para as suas explorações. Como dizia Marcel Duchamp, a arte não é uma questão de forma mas de função. Sultan compreende isso intuitivamente.
Veja como ele trata a superfície das suas obras. Em “Battery May 5, 1986”, as camadas de alcatrão e látex criam uma topografia complexa que torna a superfície do quadro num território a explorar. As impressões das suas ferramentas, as marcas dos seus gestos, os acidentes do processo, tudo isso torna-se parte integrante da obra. É como se Jackson Pollock tivesse decidido pintar paisagens industriais.
Sultan não é um artista que procura confortar-nos com imagens agradáveis. Ele não faz decoração ou o agradável. A sua arte é tão dura e inflexível quanto os materiais que utiliza. Mas é precisamente essa dureza que torna o seu trabalho tão relevante hoje. Num mundo onde a arte contemporânea muitas vezes se perde em gesticulações conceptuais vazias de sentido, Sultan relembra-nos que a pintura ainda pode ser um meio poderoso para compreender a nossa época.
Tire um tempo para parar diante de uma das suas “Disaster Paintings”. Observe como o alcatrão preto absorve a luz como um buraco negro. Veja como as silhuetas de fábricas emergem do caos como fantasmas industriais. É uma pintura que pega nas suas entranhas antes mesmo do seu cérebro ter tido tempo para analisar o que vê. É uma arte que fala diretamente ao seu sistema nervoso, como uma sinfonia de Mahler ou um filme de Tarkovski.
No seu uso do preto, Sultan junta-se a uma longa linhagem de artistas que entenderam o poder dessa não-cor. De Goya a Pierre Soulages, passando por Ad Reinhardt, o preto sempre foi mais do que uma simples ausência de luz, é uma presença ativa, uma força que estrutura o espaço. Os pretos de Sultan são particularmente poderosos porque são feitos de alcatrão, um material que carrega toda a história da nossa revolução industrial.
As suas naturezas mortas monumentais também jogam com essa tensão entre presença e ausência. Um limão preto de Sultan não é simplesmente um limão pintado de preto, é um objeto que existe num espaço liminar entre representação e abstração, entre natureza e cultura. Como escreveu Roland Barthes sobre a fotografia, essas imagens estão ao mesmo tempo lá e não lá, presentes e ausentes.
A maneira como Sultan trata o espaço nas suas obras é também notável. Nos seus grandes formatos, o espaço não é simplesmente um recipiente para os objetos representados, torna-se um ator por si só. Os vazios entre as formas são tão importantes quanto as próprias formas. É como se Sultan tivesse compreendido intuitivamente o que o filósofo Martin Heidegger queria dizer quando falava do espaço como uma “clareira do ser”.
Vá ver uma exposição de Sultan. Veja como ele reinventa o meio usando materiais industriais. Observe como transforma azulejos de linóleo e alcatrão em poesia visual. Isso sim, é a verdadeira inovação na arte, não as últimas tendências da moda, mas a capacidade de fazer dizer algo de novo a um meio antigo.
No seu estúdio em Tribeca, Sultan continua a trabalhar com a mesma intensidade do início da sua carreira. Não sucumbiu às sereias do mercado da arte, não suavizou o seu trabalho para agradar colecionadores. Mantém-se fiel à sua visão, continuando a explorar as possibilidades dos seus materiais industriais com a mesma curiosidade de um alquimista medieval.
A obra de Sultan é um testemunho da resiliência da pintura como meio. Num mundo saturado de imagens digitais e realidade virtual, ele relembra-nos que nada pode substituir a experiência física de uma obra de arte. As suas telas não são janelas para outro mundo, são objetos que existem no nosso mundo, tão reais e tangíveis quanto as paredes que nos rodeiam.
Então, na próxima vez que ouvir alguém dizer que a pintura está morta, leve-o a ver uma obra de Donald Sultan. E lembre-lhe que enquanto houver artistas capazes de transformar materiais industriais em poesia visual, a pintura continuará bem viva. Porque isso é a verdadeira herança de Sultan, mostrar-nos que a arte ainda pode surpreender-nos, desestabilizar-nos e comover-nos, mesmo com os materiais mais banais do nosso mundo industrial.