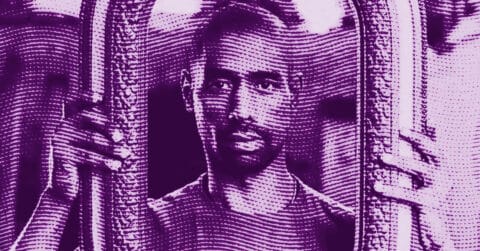Ouçam-me bem, bando de snobs : Emmi Whitehorse pinta como as suas ancestrais teciam, com essa paciência minuciosa que transforma os fios coloridos em cartografias espirituais. Há mais de quarenta anos, esta mulher membro da Nação Navajo compõe sinfonias visuais onde a natureza se revela na sua nudez mais íntima, longe das convenções pictóricas ocidentais que ainda pretendem definir o que é ou não é a arte contemporânea.
Nascida em 1956 em Crownpoint, Novo México, Whitehorse pertence a essa geração de artistas indígenas que recusaram as atribuições identitárias para inventar a sua própria linguagem plástica. A sua formação na Universidade do Novo México, onde obteve sucessivamente uma licenciatura em pintura e depois um mestrado em gravura, confronta-a desde o início com essa tensão fundamental entre herança cultural e modernidade artística. Mas, ao contrário dos seus contemporâneos que optam pela denúncia ou pela reapropriação polémica, Whitehorse escolhe o caminho da imersão contemplativa.
A arquitetura do impermanente
A obra de Whitehorse desenvolve-se segundo uma lógica que evoca irresistivelmente a arquitetura gótica na sua conceção do espaço sagrado. Como os construtores de catedrais que procuravam materializar o invisível divino, a artista navajo constrói as suas composições de acordo com uma geometria espiritual onde cada elemento participa de um equilíbrio cósmico. As suas telas revelam essa mesma aspiração vertical, essa mesma busca de transcendência que se encontra nas abóbadas de Chartres ou nos rosáceos de Notre-Dame. Mas onde a arte gótica se eleva para um Deus cristão, Whitehorse desce para as profundezas telúricas da sua terra ancestral.
Esta parentesco com a arquitetura religiosa medieval não é fortuito. As pinturas de Whitehorse funcionam como espaços litúrgicos onde o espectador é convidado a uma forma de recolhimento estético. As suas composições abstratas, atravessadas por sinais e símbolos flutuantes, recordam esses manuscritos iluminados onde o texto sagrado se mistura às marginais ornamentais. Cada obra torna-se um livro de horas contemporâneo, um breviário visual que ordena o caos do mundo segundo os ritmos cósmicos navajo.
A artista procede por acumulações sucessivas, sobrepondo as camadas pictóricas como os mestres vidreiros montavam os seus vitrais policromados. Esta técnica da estratificação cria uma profundidade óptica que evoca os jogos de luz filtrada dos grandes edifícios religiosos. Nas suas obras recentes expostas na Bienal de Veneza 2024, nomeadamente “Typography of Standing Ruins #3”, Whitehorse leva esta analogia arquitetónica ao seu limite conceptual: as suas “ruínas em pé” sugerem esses vestígios de capelas abandonadas onde a natureza retoma os seus direitos, onde a arte humana retorna ao seu substrato orgânico.
Mas Whitehorse não se limita a imitar a estética gótica. Ela subverte a lógica teológica para nela substituir uma cosmogonia autóctone onde a horizontalidade prevalece sobre a verticalidade, onde a imanência suplanta a encarnação. As suas “catedrais” são prados, as suas “naves” são desfiladeiros, as suas “abóbadas” são os céus infinitos do Sudoeste americano. Esta inversão paradigmática constitui um dos aspetos mais subversivos do seu trabalho: desmonta silenciosamente a hegemonia espiritual ocidental contrapondo-lhe uma espiritualidade que se alimenta das fontes pré-cristãs da humanidade.
A arquitetura torna-se em Whitehorse uma metáfora da memória cultural. Tal como esses monumentos góticos que trazem em si a marca de todas as suas sucessivas remodelações, as suas telas conservam a memória estratificada da terra navajo. Cada camada pictórica equivale a uma época geológica, cada símbolo a um evento histórico inscrito na paisagem. Esta conceção por estratos da pintura faz de Whitehorse uma arqueóloga do sensível, uma exploradora de almas que desenterra as verdades enterradas nos sedimentos da colonização.
A luz desempenha nas suas obras o mesmo papel estruturante que na arte gótica: revela, hierarquiza, santifica. Mas enquanto a luz gótica desce do céu para a terra, a de Whitehorse irradia desde as profundezas geológicas para banhar as suas composições com uma fosforescência mineral. Esta inversão da fonte luminosa traduz perfeitamente a diferença entre uma espiritualidade da elevação e uma espiritualidade do enraizamento.
A alquimia da poesia americana
Se a arquitetura gótica fornece a Whitehorse o seu vocabulário espacial, é na poesia americana que ela encontra o seu ritmo temporal. As suas composições evocam irresistivelmente a prosódia de Walt Whitman, essa cadência ampla e respirada que abraça as vastas extensões do continente americano. Tal como o autor de “Folhas de Erva”, Whitehorse pratica uma estética do inventário cósmico onde cada elemento natural encontra o seu lugar numa sinfonia global.
Esta filiação poética ultrapassa a simples analogia estilística para tocar os fundamentos filosóficos da criação artística. Whitman revolucionou a poesia americana ao abandonar as formas métricas herdadas da Europa para inventar um verso livre que acompanha os ritmos naturais da palavra e da paisagem. Da mesma forma, Whitehorse liberta a pintura autóctone dos cânones estéticos impostos pela arte ocidental para reencontrar essa organicidade primitiva que faz da arte uma extensão da natureza e não uma imitação.
A noção whitmaniana do “Eu cósmico” encontra em Whitehorse a sua tradução plástica. Os seus autorretratos abstratos da série “Self Surrender” revelam um sujeito artístico que se dissolve na natureza envolvente para melhor se regenerar nela. Essa dissolução do eu individual no grande Todo cósmico recorda os êxtases panteístas de Whitman, esses momentos em que o poeta se sente “atravessado” pela energia universal. Em Whitehorse, essa fusão opera-se pela mediação da cor: os seus amarelos incandescentes, os seus azuis abissais, os seus vermelhos telúricos funcionam como vetores de comunhão mística com as forças elementares.
A própria técnica de Whitehorse evoca a escrita whitmaniana pelo seu caráter processual e gerativo. Tal como Whitman que não parava de reescrever e aumentar as suas “Folhas de Erva”, a artista navajo procede por retomadas e variações infinitas sobre os mesmos motivos orgânicos. As suas sementes, os seus pólens, os seus filamentos vegetais metamorfoseiam-se de uma tela para outra segundo uma lógica evolutiva que imita os ciclos naturais de crescimento e regeneração.
Esta poética da variação perpétua inscreve a obra de Whitehorse na grande tradição da poesia oral indígena, onde cada recitação atualiza o mito consoante as circunstâncias da enunciação. As suas pinturas funcionam como poemas visuais que se reinventam a cada olhar, revelando associações inéditas segundo o estado de espírito do espetador e as condições de iluminação da exposição.
A influência da poesia americana transparece também na conceção do tempo em Whitehorse. Como em Whitman ou Emily Dickinson, o tempo não é linear mas cíclico, marcado pelos ritmos biológicos e cósmicos em vez da história humana. As suas obras recentes da série “Sanctum”, pintadas durante a pandemia, revelam esta temporalidade alternativa onde o isolamento social se torna uma ocasião para uma reconexão com os ritmos fundamentais da existência [1].
Esta conceção poética do tempo explica porque Whitehorse recusa qualquer orientação definitiva para as suas telas, virando-as constantemente durante o processo criativo. Esta rotação permanente imita os ciclos sazonais e diários que estruturam a experiência temporal indígena. Cada posição da tela revela um aspeto diferente da realidade representada, como aqueles poemas de Dickinson que mudam de sentido conforme a ênfase dada a algum verso.
A revelação do microcosmo
“As minhas pinturas contam a história de conhecer a terra no tempo, de estar completamente, microcosmicamente num lugar” [2], confessa Whitehorse numa das suas raras entrevistas. Esta fórmula condensa a essência do seu percurso artístico: revelar o infinito do pequeno, dar a ver a invisível proliferação da vida elementar que anima cada parcela do território. As suas composições funcionam como microscópios poéticos que ampliam o impercetível até o tornarem numa epifania visual.
Esta estética do microcosmo está enraizada na infância da artista, passada a cuidar de ovelhas nas vastas extensões desertas do Novo México. Esta solidão precoce aguçou a sua perceção das ínfimas variações luminosas, dos micromovimentos da vegetação, de todos esses fenómenos ténues que geralmente escapam à atenção humana. As suas obras traduzem esta hipersensibilidade sensorial numa linguagem plástica de extrema subtilidade, onde cada nuance cromática corresponde a uma sensação particular.
O trabalho de Whitehorse revela um conhecimento íntimo dos ecossistemas do Sudoeste americano que ultrapassa largamente a observação superficial do turista ou mesmo do proprietário de rancho. As suas referências às plantas endémicas, “Ice Plant XIV”, “Needle and Thread Grass III” e “Prickly Green II”, testemunham uma familiaridade quase científica com a flora local. Mas esta precisão botânica é acompanhada de uma dimensão espiritual que faz de cada espécie vegetal um ator do drama cósmico navajo.
A filosofia do hózhó, central na cosmologia navajo, encontra na arte de Whitehorse a sua tradução plástica mais conseguida. Este conceito, intraduzível na nossa língua, designa a harmonia dinâmica que liga todos os seres vivos numa rede de interdependências subtis. Whitehorse materializa esta visão holística pela sua técnica da sobreposição: as suas diferentes camadas pictóricas interagem segundo uma lógica de ecossistema onde cada elemento influencia e modifica todos os outros.
Essa abordagem sistêmica da pintura faz de Whitehorse uma pioneira da arte ecológica contemporânea. Muito antes da crise climática sensibilizar o mundo artístico para as questões ambientais, ela desenvolvia uma linguagem plástica capaz de tornar visível a interconexão de todos os fenômenos naturais. Suas obras funcionam como modelos reduzidos da biosfera, ecossistemas pictóricos onde se experimentam novas relações entre o ser humano e seu ambiente.
Essa dimensão ecológica ganha uma ressonância particular no contexto atual da sexta extinção em massa. Os frágeis equilíbrios que as telas de Whitehorse revelam nos lembram a precariedade do nosso mundo natural e a urgência de inventar novos modos de convivência com as outras espécies. Sua arte torna-se assim um apelo silencioso pelo reconhecimento da dignidade intrínseca do vivo, para além de sua utilidade para a espécie humana.
Para uma síntese crítica
A obra de Emmi Whitehorse resiste às categorizações apressadas que a quereriam enclausurar no gueto da “arte autóctone” ou anexar ao movimento dominante da abstração contemporânea. Sua singularidade reside precisamente nessa capacidade de síntese que faz dialogar as tradições plásticas mais diversas sem jamais hierarquizá-las ou opô-las. Ela demonstra pelo exemplo que é possível ser radicalmente moderna sem renegar suas raízes culturais, inovar sem iconoclastia.
Essa posição de equilibrista faz de Whitehorse uma figura emblemática da pós-modernidade artística, entendida não como um movimento estético particular, mas como uma atitude crítica que rejeita os grandes relatos unificadores da modernidade ocidental. Sua arte propõe uma alternativa ao universalismo abstrato da Escola de Nova York, contrapondo-lhe um particularismo concreto que não exclui a comunicação intercultural.
O reconhecimento internacional de que Whitehorse desfruta agora, sua inclusão na Bienal de Veneza 2024 e suas exposições nos maiores museus americanos, testemunham essa evolução do gosto contemporâneo para estéticas mais inclusivas e menos eurocêntricas. Mas essa consagração institucional não deve fazer esquecer a dimensão subversiva de seu trabalho, sua silenciosa contestação das hierarquias culturais estabelecidas.
Pois a arte de Whitehorse opera uma revolução copernicana na nossa relação com a paisagem e a natureza. Onde a tradição pictórica ocidental impõe seu ponto de vista antropocêntrico, ela substitui por uma visão ecocêntrica que desloca o humano de sua posição dominante para o reintegrar na comunidade do vivo. Essa descentração ontológica constitui talvez a contribuição mais preciosa de sua obra para a arte contemporânea: nos ensinar a ver o mundo de outro modo que não através do prisma das nossas projeções narcisistas.
O legado de Whitehorse mede-se menos pela influência estilística que poderia exercer sobre a geração jovem do que por sua capacidade de abrir novos territórios à experiência estética. Ao revelar a beleza dos infinitesimais, ao dar forma plástica às intuições espirituais de sua cultura de origem, ao inventar uma linguagem abstrata capaz de expressar o invisível, ela enriquece nosso vocabulário perceptivo e nos torna mais sensíveis às sutilezas do mundo natural.
Essa educação do olhar constitui um desafio político maior na época em que a humanidade deve reinventar suas relações com a biosfera. A arte de Whitehorse nos prepara para essa mutação necessária, cultivando essa atenção flutuante, essa disponibilidade contemplativa que permite perceber a vida em todas as suas formas. Ela nos lembra que a arte não é apenas um entretenimento estético, mas um instrumento de conhecimento e de regeneração espiritual.
Num mundo saturado de imagens espetaculares e emoções artificiais, as pinturas de Whitehorse oferecem um refúgio de silêncio e autenticidade. Elas convidam-nos a redescobrir essa lentidão perceptiva, essa paciência meditativa que permite aceder às verdades essenciais. Elas ensinam-nos que a verdadeira arte não se limita a representar a realidade, mas revela-a na sua dimensão sagrada, reconciliando-nos com o mistério fundamental da existência.
A obra de Emmi Whitehorse constitui um antídoto precioso à desmitificação do mundo contemporâneo. Ao restituir à natureza a sua dimensão sagrada, ao revelar a poesia oculta nos fenómenos mais humildes, ajuda-nos a reencantar a nossa relação com o real. A sua arte lembra-nos que não somos apenas consumidores de imagens, mas participantes no grande diálogo cósmico que une todos os seres numa mesma comunidade de destino. Esta lição de sabedoria, proferida por uma mulher que soube preservar as intuições ancestrais do seu povo enquanto as atualizava na linguagem da arte contemporânea, ressoa como uma mensagem de esperança na nossa época conturbada.
- Michael Abatemarco, “Depth of Field: Artist Emmi Whitehorse”, The Santa Fe New Mexican, 8 de janeiro de 2021
- Elisa Carollo, “Navajo Artist Emmi Whitehorse’s Symbolic Landscapes Offer a Path to Reconnection With Nature”, Observer, outubro de 2024