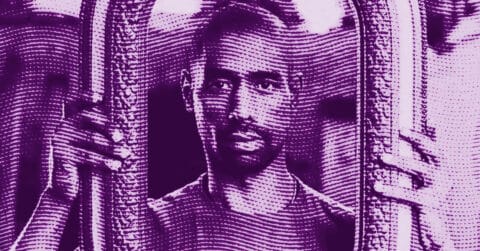Ouçam-me bem, bando de snobs, Harland Miller não é um artista como os outros. Ele é aquela criança de Yorkshire que transformou a nostalgia coletiva pelos livros Penguin numa meditação visual sobre a condição humana. As suas telas monumentais representam mais do que uma mera paródia de capas de livros, elas personificam a interseção perfeita entre arte popular e a expressão visceral de uma sensibilidade literária profunda.
Vamos reservar um momento para examinar esses títulos que nos fazem sorrir e franzir a testa simultaneamente: “York, So Good They Named It Once” (“York, tão boa que a nomearam apenas uma vez”), “Whitby, The Self Catering Years” (“Whitby, os anos do alojamento independente”), “Incurable Romantic Seeks Dirty Filthy Whore” (“Romântico incurável procura mulher suja e devassa”). Estas frases não são meras piadas. Miller joga com a nossa afeição por objetos culturais familiares, ao mesmo tempo que os subverte com um humor mordaz que revela verdades profundas sobre a nossa existência. É precisamente essa tensão entre o conforto visual do design reconhecível e o desconforto provocado pelos seus títulos que cria a fricção elétrica no cerne do seu trabalho.
A obra de Miller insere-se brilhantemente na tradição do Pop Art, mas faz-o com uma consciência literária que eleva o seu trabalho para além das simples apropriações visuais. Como escritor publicado e romancista consumado, o seu “Slow Down Arthur, Stick to Thirty” (“Desacelera Arthur, mantém-te nos trinta”) foi aclamado pela crítica em 2000. Miller traz uma sensibilidade narrativa para as suas telas que poucos artistas contemporâneos conseguem igualar. Cada pintura é uma história potencial, cada título um romance em miniatura, e cada composição uma meditação sobre a forma como construímos a nossa identidade através das narrativas culturais que nos rodeiam.
A presença do texto na arte não é certamente nova, pense em Jenny Holzer ou Barbara Kruger, mas Miller confere-lhe uma dimensão psicológica que ecoa as obras de Albert Camus. Tal como o escritor existencialista francês, Miller explora o absurdo da existência moderna através dos seus títulos irónicos que oscilam entre o desespero e o humor negro. Em “Death, What’s In It For Me?”, quase se ouve o eco de Camus quando ele escreve em “Le Mythe de Sisyphe”: “Há apenas um problema filosófico realmente sério: é o suicídio” [1]. O absurdo existencial que impregna as obras de Miller confronta-nos com as nossas próprias angústias, ao mesmo tempo que nos oferece o alívio do riso como meio de transcendência.
Esta dimensão existencial da obra de Miller é acentuada pela sua paleta cromática evocativa e frequentemente melancólica. Os seus fundos, que recordam os campos de cor de Mark Rothko, não são meros fundos para as suas mensagens irónicas. Funcionam como espaços emocionais, estados de alma visuais que transformam o impacto dos seus textos. Quando Miller pinta “Armageddon, Is It Too Much To Ask?” num fundo azul profundo e tempestuoso, evoca simultaneamente a ironia mordaz e a melancolia profunda que caracterizam a condição humana na sua absurda essência.
Mas a obra de Miller não é apenas uma meditação sobre o absurdo, é também profundamente enraizada numa compreensão do papel dos objetos literários na nossa construção identitária. Como ele próprio declarou: “Sempre gostei de livros usados; livros que eram como objetos no mundo, que tinham pertencido a diferentes pessoas. Se os abrires, havia por vezes uma dedicatória na página de rosto que era incrivelmente íntima, um pequeno vislumbre da vida de outra pessoa” [2]. Esta fascinação pelas histórias pessoais inscritas nos objetos culturais partilhados ecoa as teorias da sociologia da cultura desenvolvidas por Pierre Bourdieu.
Em “La Distinction”, Bourdieu analisa como os nossos gostos culturais funcionam como marcadores de classe e de identidade social. Ele escreve: “O gosto classifica, e classifica aquele que classifica: os sujeitos sociais distinguem-se pelas distinções que fazem entre o belo e o feio, o distinto e o vulgar” [3]. Miller joga precisamente com esta dinâmica ao transformar as capas da Penguin, símbolos de educação e de capital cultural, em comentários sarcásticos sobre a vacuidade da existência moderna ou as pretensões da classe média britânica.
Os próprios livros Penguin, com o seu design icónico criado em 1935, destinavam-se a democratizar a literatura de qualidade. Ao apropriá-los, Miller chama a nossa atenção para a tensão entre a cultura “alta” e “baixa”, ao mesmo tempo que desfoca deliberadamente essa distinção. As suas obras são tanto acessíveis como intelectualmente ricas, populares e conceptualmente sofisticadas. Como destaca o próprio artista: “Sempre gostei da cultura alta e da cultura baixa separadamente, mas também quando elas se encontram, o que não acontece frequentemente, mas é algo que tentei desenvolver no meu trabalho” [4].
Esta fusão entre o popular e o intelectual manifesta-se não só no conteúdo das suas obras, mas também na sua forma. Miller utiliza técnicas de pintura expressivas e gestuais que contrastam com a precisão tipográfica dos seus textos. Estas camadas de pintura, estas salpicos e escorrimentos revelam a mão do artista, introduzindo um elemento de autenticidade emocional nas suas apropriações de designs comerciais. A tensão entre o design gráfico rigoroso e o expressionismo pictórico cria uma dialética visual que reflecte perfeitamente a tensão temática entre humor e desespero.
Os críticos que rejeitam Miller como um simples fazedor de piadas visuais perdem completamente a profundidade do seu empreendimento artístico. O seu trabalho está firmemente ancorado na tradição britânica do humor negro como mecanismo de sobrevivência face à adversidade. Esta tradição estende-se desde o humor mordaz dos Monty Python até à comédia desesperada de Samuel Beckett. Em “Esperando Godot”, Beckett faz Estragon dizer: “Nada acontece, ninguém vem, ninguém vai, é terrível” [5]. Esta mesma sensibilidade absurda impregna títulos de Miller como “Incurable Romantic Seeks Dirty Filthy Whore”, uma justaposição que expõe a contradição fundamental entre as nossas aspirações românticas e as nossas realidades prosaicas.
Um dos aspectos mais interessantes do trabalho de Miller é a sua capacidade de evocar um sentimento de lugar, particularmente a sua região natal, Yorkshire. As suas obras como “Grimsby, The World Is Your Whelk” ou “York, So Good They Named It Once” estão impregnadas de um humor regional distintivo que celebra e satiriza simultaneamente esses lugares. A melancolia das suas “bad weather paintings”, com as suas camadas de azul desbotado e os seus títulos que evocam o turismo balnear britânico na sua glória húmida e ventosa, capturam na perfeição aquilo que o escritor inglês J.B. Priestley chamou de “alma do Norte”.
Em “English Journey”, Priestley descreve o Norte da Inglaterra como possuindo “uma qualidade particular no ar ou na luz, uma relutância singular nas paisagens, um certo sentimento, um espírito” [6]. Miller, com o seu humor seco e o seu olhar para o pathos da vida quotidiana, capta perfeitamente esse espírito. As suas obras estão impregnadas de uma nostalgia que nunca é simplesmente sentimental; reconhecem a dureza e a beleza das paisagens do Norte, assim como reconhecem o desespero e o humor que coexistem na condição humana.
O alter ego autoproclamado de Miller, “International Lonely Guy”, constitui outro aspeto interessante da sua prática artística. Esta persona, inspirada pelos seus anos passados a viajar e a viver em hotéis anónimos pelo mundo, representa uma figura arquetípica da alienação moderna. É uma personagem digna dos romances existencialistas, um estrangeiro camusiano a percorrer um mundo desprovido de sentido intrínseco. Como Miller explica: “Comecei a redigir uma espécie de diário de homem solitário internacional, num estilo à dura de Raymond Chandler que magnificava o quotidiano banal” [7].
Esta elevação do banal para o significativo está no centro do empreendimento artístico de Miller. Tal como Camus encontrava sentido no próprio ato de luta contra o absurdo, Miller encontra um significado na transformação de objetos quotidianos em comentários profundos sobre a nossa condição coletiva. Há algo profundamente democrático nesta abordagem, a convicção de que mesmo os aspetos mais ordinários da nossa existência merecem ser elevados ao estatuto de arte.
À medida que a obra de Miller evoluiu, movendo-se das paródias de capas da Penguin para composições mais abstratas centradas em palavras únicas como “UP”, “IF” ou “LOVE”, a sua preocupação fundamental com a linguagem enquanto local de significado e identidade mantém-se constante. Estas novas obras, com as suas letras sobrepostas e paletas vibrantes, continuam a explorar como as palavras moldam a nossa experiência do mundo. Como observa Miller: “Foi interessante ver se uma palavra poderia resumir a história de alguém, ou se pensavam que poderia. A resposta foi sim, afinal. Algumas pessoas escreveram-me a dizer: ‘If: é toda a minha vida!'” [8].
Esta compreensão do poder das palavras de conter mundos inteiros de experiência pessoal testemunha a sensibilidade literária de Miller. Como escritor e artista, ele compreende como uma palavra simples pode funcionar como um portal para realidades emocionais complexas. Tal como Proust com a sua madeleine, Miller usa significantes culturais familiares para desencadear avalanches de memórias pessoais e coletivas.
O que torna a obra de Miller tão poderosa é a sua capacidade para nos fazer sentirmos o absurdo e a beleza da nossa existência através dos objetos culturais que nos rodeiam. As suas pinturas lembram-nos que as nossas vidas são simultaneamente profundamente significativas e completamente absurdas, que as nossas histórias pessoais são únicas e universais, que a nossa condição é tanto trágica como cómica.
Por isso, da próxima vez que vir uma dessas telas gigantes com um título que o faz sorrir involuntariamente, lembre-se de que não está simplesmente a olhar para uma piada visual sofisticada. Está perante uma obra que contém toda a gloriosa contradição da existência humana, o nosso desejo de sentido num universo que não oferece nenhum, a nossa busca pela conexão num mundo de alienação, e a nossa capacidade de encontrar humor e beleza mesmo nos aspetos mais sombrios da nossa condição.
E se tudo isto lhe parecer demasiado profundo para uma pintura que se assemelha a uma capa de livro Penguin, bem, talvez seja exatamente o snob a quem me dirigia no início.
- Camus, Albert. “O Mito de Sísifo”, Éditions Gallimard, 1942.
- Miller, Harland. Entrevista para Country and Town House, 2023.
- Bourdieu, Pierre. “A Distinção. Crítica social do julgamento”, Éditions de Minuit, 1979.
- Miller, Harland. Entrevista para Artspace, 2023.
- Beckett, Samuel. “Esperando Godot”, Éditions de Minuit, 1952.
- Priestley, J.B. “English Journey”, William Heinemann Ltd, 1934.
- Miller, Harland. Entrevista para Studio International, 2016.
- Miller, Harland. Entrevista para iNews, 2020.