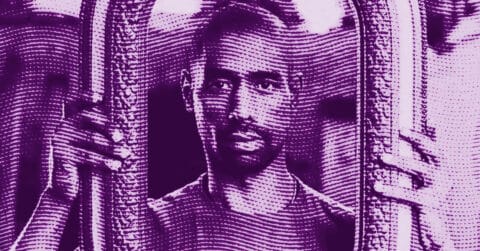Ouçam-me bem, bando de snobs, neste mundo artístico saturado de instalações de vídeo incompreensíveis e performances conceptuais soporíferas, existe um artista que faz algo tão simples quanto audacioso: ele recorta livros. Não de qualquer maneira, obviamente. Ilann Vogt, esse tecelão de textos bretão nascido em 1986, transforma literatura em objetos têxteis com uma meticulosidade monástica que beira a obsessão. Todos os dias, armado com um estilete e uma régua, recorta linha por linha obras inteiras, de Rimbaud a Proust, de Homero a Kafka, para as metamorfosear em tapeçarias de palavras. E quando digo “linha por linha”, falo literalmente de cortar o espaço entre cada linha impressa, sem nunca cortar uma palavra, para depois entrelaçar essas tiras de papel como um antigo tecelão.
Vogt, um dos três laureados do Luxembourg Art Prize em 2022, prémio internacional de arte contemporânea, trabalha na solidão do seu atelier bretão com a constância de um monge copista medieval. Esta comparação não é fortuita. Como os monges que preservavam o saber através dos seus manuscritos iluminados, Vogt cria uma biblioteca ideal mundial, mas sob forma de corpos têxteis. É um ato de conservação quase paradoxal: desmonta fisicamente os livros para melhor preservar a sua essência.
Se olharmos atentamente para o seu trabalho, descobrimos a profunda influência de Claude Lévi-Strauss e a sua conceção estruturalista dos mitos [1]. Como o antropólogo que desmontava os relatos míticos em unidades constitutivas para compreender a estrutura profunda, Vogt desmembra literalmente o texto para revelar uma anatomia invisível da obra. Desestrutura para reestruturar, decodifica para recodificar. Ao transformar “À la recherche du temps perdu” numa imensa tela tecida, ele não faz apenas uma mudança de meio; propõe uma leitura estrutural da obra proustiana, onde o tempo já não é linear mas simultâneo, onde a narrativa já não é sucessão mas justaposição.
Esta abordagem estruturalista manifesta-se particularmente no seu método rigoroso. Como Lévi-Strauss, que estabelecia regras estritas para a análise dos mitos, Vogt impõe-se restrições invioláveis: usar o texto na sua língua original, nunca cortar palavras, empregar a totalidade da obra. Estas restrições não são arbitrárias, mas essenciais ao seu projeto de revelação estrutural dos textos. Na sua tecelagem de “Adresse au récit”, que mistura árabe, grego, inglês, francês e várias outras línguas, ele reproduz quase inconscientemente o empreendimento levi-straussiano de pesquisa dos invariantes através da diversidade cultural.
Mas não nos enganemos: Vogt não é apenas um teórico frio que brinca com a literatura como se fosse fórmulas matemáticas. O seu trabalho está também profundamente impregnado pelo pensamento de Jorge Luis Borges, esse outro amante dos labirintos textuais [2]. A “Biblioteca de Babel” borgiana, infinita e contendo todos os livros possíveis, encontra o seu eco no projeto de Vogt de tecer potencialmente cada obra literária existente. Como escreve Borges: “A Biblioteca é ilimitada e periódica. Se houvesse um viajante eterno para a atravessar num sentido qualquer, os séculos acabariam por lhe ensinar que os mesmos volumes se repetem na mesma desordem.” [3]
Esta dimensão borgiana manifesta-se também na transformação do tempo de leitura que Vogt propõe. Quando diz querer que se possa “ler Proust de um só olhar”, ele junta-se à concepção borgiana do tempo não linear, do instante que contém a eternidade. Os sete tomos de “À la recherche du temps perdu”, com as suas milhares de páginas e os seus milhões de caracteres, condensam-se num único objeto visual que o olho pode abranger instantaneamente. É exatamente isso que Borges descrevia em “O Aleph”, esse ponto no espaço que contém todos os outros pontos: “[…] eu vi […] a circulação do meu sangue obscuro, o engrenamento do amor e a transformação da morte, eu vi o Aleph, em todos os ângulos, eu vi sobre o Aleph a terra, e sobre a terra de novo o Aleph e sobre o Aleph a terra, […] pois os meus olhos tinham visto esse objeto secreto e conjectural, cujo nome os homens usurpam, mas que nenhum homem olhou: o inconcebível universo.” [4]
Onde outros artistas contemporâneos se ficam por roçar a superfície dos textos que utilizam, muitas vezes apenas como pretexto visual, Vogt mergulha completamente na sua materialidade. Há algo de quase erótico na forma como ele manipula o corpo do livro, cortando-o, dobrando-o, trançando-o. Não é uma violação do texto, mas uma relação consentida, uma dança íntima entre o artista e a obra. Veja-se o seu “Madame Bovary” transformado em vestido: é muito mais do que um jogo visual fácil, é uma leitura corpórea do romance de Flaubert, onde a roupa se torna metáfora dos desejos e das restrições sociais que sufocam Emma.
O trabalho de Vogt insere-se também numa tradição artesanal que a nossa época de produção digital em massa quase esqueceu. Na altura em que qualquer algoritmo pode gerar obras em série, ele passa horas, dias, por vezes meses a cortar e a tecer manualmente uma só obra. Esta lentidão deliberada é um ato de resistência contra a nossa cultura da instantaneidade, um lembrete de que certas coisas não podem ser aceleradas sem perder a sua essência.
O que me agrada é a forma como Vogt consegue tornar visível o invisível. Um livro fechado é um objeto hermético, um bloco de papel inerte. Ao desconstruí-lo para tecê-lo, ele revela a textura escondida do texto, sua respiração, seu ritmo interno. Os teares de Virginia Woolf são densos, compactos, os de Paul Celan são aéreos, fragmentados. Essa visualização dos estilos literários é de uma inteligência rara, uma forma de crítica literária que não passa pelas palavras mas pela pura materialidade.
Mas atenção, não é porque Vogt trabalha com livros que deve ser colocado na categoria confortável dos “artistas do livro”. Seu meio é o papel impresso, certamente, mas seu verdadeiro assunto é o tempo. Como ele mesmo diz ao falar de seu tear incompleto de Proust (todos os volumes exceto “Le Temps retrouvé”), ele “reflete pela matéria sobre o inacabado”. Seus teares são relógios parados, momentos congelados que paradoxalmente contêm a duração inteira de uma leitura.
O mito de Penélope, que inspira explicitamente Vogt, é também uma história de tempo suspenso, de espera, de trabalho que nunca se acaba. Mas ao contrário de Penélope que desfazia à noite o que tecia durante o dia, Vogt acumula suas obras. Cada novo tear acrescenta um volume à sua biblioteca ideal, essa coleção impossível que nunca estará completa mas que tende assimptoticamente para a totalidade borgiana.
Essa dimensão borgiana do seu trabalho não se limita ao “Endereço ao relato”, essa obra babeliana onde ele mistura as línguas. Ela também se encontra em sua própria conceção da leitura. Para Borges, como para Vogt, ler não é uma simples decodificação linear de um texto, mas uma experiência complexa onde a imaginação do leitor desempenha um papel tão importante quanto as palavras do autor. É por isso que Vogt privilegia a abstração em detrimento da figuração: ele não quer impor suas imagens mentais, mas criar um espaço onde as do espectador possam-se desenvolver livremente.
Quando ele tece a “Odisseia” de Homero, Vogt não nos mostra Ulisses ou as sereias; ele nos oferece uma matéria que evoca o movimento do mar, a passagem do tempo, o errar do herói. Essa abordagem lembra a distinção que Borges faz entre a alegoria, que é apenas uma transposição mecânica de ideias abstratas em imagens concretas, e o símbolo, que está aberto a uma multiplicidade de interpretações. Os teares de Vogt são profundamente simbólicos no sentido borgiano: eles não representam, eles evocam.
O escritor argentino escrevia que “o livro é uma extensão da memória e da imaginação” [5]. Vogt parece partilhar essa visão quando fala de criar obras que permitem “sentir o texto e sentir a sua aura em uma fração de segundo”. Não se trata de resumir ou de simplificar a obra literária, mas de capturar sua essência, de preservar sua complexidade ao mesmo tempo que a torna imediatamente perceptível.
O que diferencia radicalmente Vogt de tantos artistas contemporâneos que brincam com o texto é o seu profundo respeito pela literatura. Ele não trata os livros como simples materiais para desviar, mas como universos para explorar e honrar. Seu gesto de corte não é destrutivo, mas transformador: ele não mata o texto, dá-lhe uma nova vida.
O que faz a grandeza de Ilann Vogt é a sua capacidade de habitar plenamente esse espaço intermédio entre o artesanato e a arte conceptual, entre a literatura e as artes visuais, entre a tradição e a inovação. Num mundo artístico que muitas vezes valoriza o espetacular e o imediato, ele propõe uma obra que exige tempo e atenção, uma obra que, como os grandes livros que transforma, se revela gradualmente a quem sabe olhar para ela.
Então da próxima vez que passarem por uma das suas obras, tirem um tempo. Parem. Olhem como a luz joga nas dobras do papel tecido. Tentem decifrar algumas palavras dispersas que emergem da trama. E talvez, só talvez, apanhem num instante o que o escritor levou anos a escrever e o leitor horas a ler. É o milagre que Ilann Vogt nos oferece: não a destruição do livro, mas a sua transfiguração.
- Lévi-Strauss, Claude. Antropologia estrutural. Plon, 1958.
- Borges, Jorge Luis. Ficções. Traduzido por P. Verdevoye e N. Ibarra. Gallimard, 1951.
- Borges, Jorge Luis. “A Biblioteca de Babel” em Ficções. Gallimard, 1951.
- Borges, Jorge Luis. “O Aleph” em O Aleph. Traduzido por R. Caillois e R. L.-F. Durand. Gallimard, 1967.
- Borges, Jorge Luis. “O livro” em Conferências. Traduzido por F. Rosset. Gallimard, 1985.