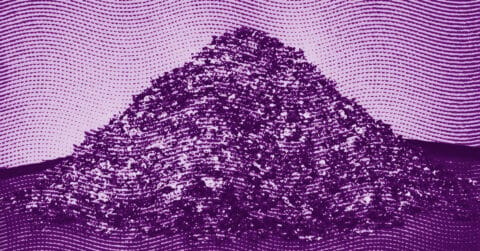Ouçam-me bem, bando de snobs: Jim Hodges não é um artista que se possa facilmente encaixar nas categorias convencionais da arte contemporânea. Este homem, nascido em 1957 no Estado de Washington, passou mais de três décadas a desenvolver uma linguagem plástica de uma delicadeza e profundidade que desafiam a nossa época de consumo desenfreado e amnésia coletiva. As suas instalações, esculturas e obras mistas constroem uma arquitetura sensível do tempo onde se encontram o íntimo e o universal, a fragilidade e a permanência, a perda e a celebração.
A alquimia proustiana da memória involuntária
A obra de Jim Hodges insere-se numa filiação intelectual notável com o pensamento de Marcel Proust, particularmente a sua conceção revolucionária da memória e do tempo tal como se desenvolve em À la recherche du temps perdu. Tal como o narrador proustiano que descobre na madeleine mergulhada no chá de tília a capacidade de ressuscitar o passado, Hodges compreende que certos materiais, certas texturas, certos gestos podem desencadear epifanias memoriais de um poder extraordinário. Esta afinidade não é fortuita: revela uma compreensão comum daquilo que Proust chamava “temps retrouvé”, essa misteriosa capacidade da arte de fazer surgir a eternidade do seio mesmo do efémero [1].
A escultura Craig’s closet (2023-2024), instalada primeiro no parque memorial do sida em Nova Iorque e depois replicada em mármore branco nas galerias londrinas, constitui o exemplo mais impressionante desta abordagem proustiana. O artista não se limita a representar um armário; ele reconstitui por digitalização 3D o conteúdo exato do armário do seu falecido companheiro Craig Ducote, criando assim o que se poderia chamar um “ready-made memorial”. Cada objeto, as bolas de softball, os cadernos usados, a bengala, torna-se o equivalente plástico daqueles detalhes aparentemente insignificantes que Proust sabia carregar com uma intensidade emocional comovente. A organização “ora cuidada, ora despreocupada, conforme a lógica pessoal de um homem” que Tom Morton descreve na ArtReview recorda essas anotações minuciosas com que o narrador proustiano tentava captar a essência fugaz dos seres amados.
Esta abordagem encontra a sua dimensão teórica mais desenvolvida na conceção proustiana do tempo como estratificação e não como sucessão linear. Para Proust, o passado nunca está verdadeiramente perdido; continua a existir numa quarta dimensão onde os momentos anteriores coexistem com o presente, acessíveis pela conjunção da perceção e da memória. Hodges atualiza esta visão em obras como Here’s where we will stay (1995), esta cortina de lenços de seda cosidos à mão que materializa literalmente a ideia proustiana de um tempo elástico, onde “as paixões que sentimos o dilatam, as que inspiramos o contraem”. Os lenços, recolhidos em mercados de pulgas e carregados com o perfume Shalimar da sua mãe, tornam-se vectores de uma memória colectiva onde se misturam o íntimo familiar e o sensual universal.
O artista partilha com Proust esta intuição fundamental de que a verdadeira experiência do tempo não se mede pelo relógio, mas pela intensidade das sensações e das memórias. Quando Hodges cria Slower than this (2001), esta sequência de descrições de lugares e atmosferas culminando na frase “começou como qualquer outro dia”, ele une-se diretamente à preocupação proustiana por esses momentos ordinários que encerram em si toda a densidade da existência. Esta obra textual, onde as letras são recortadas em fotografias, ilustra perfeitamente o método proustiano: partir do banal para alcançar o essencial, utilizar a materialidade da linguagem (aqui, literalmente materializada) para revelar as estruturas profundas da experiência temporal.
A instalação Angel Angel (2025), onde ressoa a voz espectral de Craig Ducote evocando sua tomada de consciência tardia da beleza da vida, funciona exatamente segundo o princípio proustiano da “memória involuntária”. Esta técnica de gravação, provavelmente realizada durante os últimos meses do músico, transforma a galeria numa câmara de eco temporal onde o presente da escuta dialoga com o passado da gravação e a eternidade da arte. Hodges compreende, como Proust, que o verdadeiro poder da arte reside na sua capacidade de “fazer viver os mortos e de fazer os vivos falarem com os mortos”, para retomar uma formulação de Paul Ricoeur sobre o tempo narrativo.
Esta filiação proustiana manifesta-se igualmente na atenção dada aos detalhes aparentemente negligenciáveis. A obra awaiting, (a study of time) (2025), composta por recipientes transparentes cheios de saquinhos de doces, evoca essas descrições minuciosas pelas quais Proust sabia extrair a eternidade dos gestos mais quotidianos. Estes preparativos misteriosos, para o Halloween ou para o apocalipse, sugere o artista, condensam na sua banalidade mesma toda a angústia e a esperança da espera humana. Como em Proust, é na observação meticulosa do prosaico que se revelam as verdades mais profundas sobre a nossa condição temporal.
A prática de Hodges atualiza finalmente esta convicção proustiana de que a verdadeira arte só pode nascer de uma “frequência lenta” dos materiais e das memórias. Quando o artista passa horas a coser à mão as suas cortinas de lenços, recusando a máquina para “prolongar o processo e abrandar a experiência”, reencontra essa temporalidade artesanal que Proust opunha à velocidade destruidora da modernidade. Esta paciência criativa, esta capacidade de habitar o tempo em vez de o consumir, coloca Hodges na linha daqueles artistas que Walter Benjamin chamava os “últimos contadores de histórias”, aqueles que ainda sabem transformar a experiência vivida em sabedoria transmissível.
Sociologia do luto e rituais de consolação coletiva
A obra de Jim Hodges desdobra-se também numa dimensão profundamente sociológica, particularmente na sua compreensão dos mecanismos pelos quais as sociedades contemporâneas tentam gerir a experiência coletiva do luto e da perda. Esta dimensão encontra os seus fundamentos teóricos nos trabalhos pioneiros de Émile Durkheim sobre a função integradora dos rituais fúnebres, mas também nas análises mais recentes de Robert Hertz sobre os ritos de passagem e a construção da memória social. Hodges não se limita a ilustrar estas teorias; reinventa-as através de uma prática artística que se torna ela própria um ritual de consolação coletiva [2].
A crise da sida, que marcou a chegada de Hodges a Nova Iorque nos anos 1980, constitui o contexto sociológico fundamental do seu trabalho. Esta epidemia representou muito mais do que uma catástrofe sanitária: constituíu o que os sociólogos chamam um “fato social total”, perturbando não apenas as estruturas de saúde pública mas todo o conjunto de rituais através dos quais a sociedade ocidental geria tradicionalmente a morte e o luto. Hodges viveu esta crise como um laboratório involuntário de novas formas de solidariedade e de comemoração, desenvolvendo uma linguagem plástica capaz de responder ao colapso das estruturas rituais convencionais.
As “cortinas” de flores artificiais que lhe deram reputação, Every Touch (1995), A Line to You (1994), funcionam segundo uma lógica que Durkheim teria imediatamente reconhecido como “totémica”. Estes conjuntos de materiais sintéticos tornam-se suportes de uma sacralidade nova, aquela que geram as comunidades confrontadas com perdas massivas e com a insuficiência dos rituais tradicionais. A flor artificial, neste contexto, não é um substituto degradado da natureza: torna-se o símbolo de uma permanência arrancada à destruição, de uma beleza que resiste à entropia. Esta inversão semântica, transformar o artificial em natural, o falso em autêntico, revela o génio sociológico de Hodges, a sua capacidade para identificar os novos totens de uma época em mutação.
A instalação double portrait: father and son (2025), esta garagem degradada “salva dos bayous da Louisiana”, ilustra perfeitamente esta função sociológica da arte como criadora de novos espaços rituais. Ao deslocar esta estrutura vernacular para o espaço neutralizado da galeria, Hodges opera aquilo que os antropólogos chamam uma “translação ritual”: transforma um lugar privado carregado de história familiar num templo público da memória coletiva. Os objetos que povoam este espaço, bicicleta de criança enferrujada, caixa de bolachas roxa, ferramentas corroídas, tornam-se as relíquias de uma americanidade em vias de desaparecimento, os vestígios materiais dessas “comunidades imaginadas” que Benedict Anderson identificava como o fundamento das solidariedades modernas.
Esta abordagem insere-se numa transformação mais vasta das práticas do luto nas sociedades ocidentais contemporâneas. Como mostraram os trabalhos de Tony Walter e outros sociólogos da morte, assistimos desde os anos 1970 a uma “privatização do luto” que deixa os indivíduos desamparados face à perda. Os rituais tradicionais, religiosos, familiares, comunitários, enfraqueceram sem serem substituídos por novas formas de apoio coletivo. Hodges preenche este vazio criando “dispositivos de consolação” que funcionam como tantos rituais de substituição para comunidades dispersas e secularizadas.
A obra Don’t Be Afraid (2004-2005), que reuniu mais de cem traduções desta frase em setenta línguas diferentes, constitui o exemplo mais acabado desta “sociologia aplicada”. Ao mobilizar os delegados das Nações Unidas para criar um “coro global de vozes”, Hodges atualiza a intuição durkheimiana segundo a qual as sociedades não podem sobreviver sem momentos de efervescência coletiva. A recusa dos Estados Unidos em participar no projeto revela os limites desta abordagem cosmopolita, mas também confirma a relevância sociológica da abordagem: a arte torna-se aqui um revelador das tensões geopolíticas contemporâneas, um analisador das novas formas de solidariedade e exclusão.
Esta função integradora da arte encontra a sua forma mais subtil na série das “teias de aranha” em cadeias metálicas. Estas obras, Hello, Again (1994-2003), Untitled (Gate) (1991), materializam o que Durkheim chamava a “solidariedade orgânica” das sociedades modernas: um tecido social feito de ligações ténues mas resistentes, capaz de suportar as tensões sem se romper. A passagem das cadeias pesadas para as cadeias delicadas em Untitled (Gate) representa metaforicamente a evolução das estruturas sociais contemporâneas, da coação brutal para formas mais flexíveis mas não menos eficazes de coesão coletiva.
Hodges compreende finalmente que a arte contemporânea deve assumir uma função “terapêutica” no sentido mais nobre do termo: não curar os indivíduos das suas dores, mas criar as condições colectivas nas quais essa dor pode ser partilhada, ritualizada e, finalmente, integrada na narrativa comum. As suas instalações funcionam como “espaços transicionais” no sentido que Winnicott atribuía a esta expressão: locais onde o individual e o colectivo, o privado e o público, o pessoal e o político podem encontrar-se sem se confundirem. Esta capacidade de criar ligação social a partir da fragilidade e da perda coloca Hodges entre os artistas mais necessários da nossa época, aqueles que sabem transformar a arte em instrumento de resiliência colectiva.
A eternidade dos gestos precários
Jim Hodges ensina-nos que a verdadeira grandeza artística não reside na monumentalidade mas na capacidade de captar o eterno no coração do perecível. As suas obras mais comoventes, um armário reconstruído, lenços cosidos, correntes suspensas, provam que por vezes basta um gesto de delicadeza infinita para revelar as estruturas profundas da nossa condição temporal e social. Ao actualizar a lição proustiana da memória involuntária e ao reinventar os rituais durkheimianos da solidariedade colectiva, este artista singular recorda-nos que a verdadeira arte nunca tem outra ambição senão tornar-nos mais vivos, mais presentes e mais disponíveis para a beleza frágil do mundo que nos rodeia.
Numa época obcecada pelo desempenho e pela eficácia, Hodges opõe a paciência do artesão e a ternura da memória. Frente à aceleração destrutiva das nossas sociedades, propõe a lentidão criativa como forma de resistência. Contra o esquecimento programado das nossas democracias de mercado, constrói o arquivo sensível dos nossos laços mais preciosos. Esta obra, de uma coerência e necessidade notáveis, merece ser compreendida não só como um conjunto de objectos estéticos mas como uma ética da atenção e uma política da memória, indispensáveis à nossa sobrevivência colectiva.
- Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, edição de Pierre-Edmond Robert, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2019.
- Émile Durkheim, Les Formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, Presses Universitaires de France, 1968 [1912].