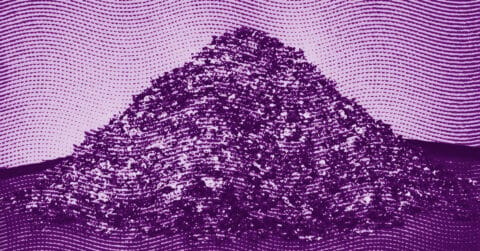Ouçam-me bem, bando de snobs. Juan Muñoz (1953-2001) não era simplesmente um artista espanhol que emergiu no contexto pós-franquista como tantos outros. Não, ele era um verdadeiro feiticeiro do espaço, um manipulador das percepções que revolucionou a escultura contemporânea com uma ousadia que até os maiores mestres da ilusão invejariam. Se pensam que estou a exagerar, é porque nunca se depararam com uma das suas instalações monumentais que vos agarram pelas entranhas e vos deixam com a sensação perturbadora de que algo inexplicável acabou de acontecer.
No panorama artístico dos anos 80 e 90, onde a escultura minimalista dominava e a arte conceptual ditava as suas regras austeras, Muñoz teve a coragem de reintroduzir a figura humana. Mas atenção, não qualquer figura humana. As suas personagens, ligeiramente menores do que o natural, fundidas em tons de cinzento ou bronze monocromáticos, não são meras representações, são os atores de um teatro existencial onde nós, espectadores, nos tornamos involuntariamente as personagens principais de um drama cujo guião ignoramos.
Vamos pegar nos seus grupos de figuras chinesas a rir, esses conjuntos enigmáticos que marcaram a sua produção dos anos 90. Estas personagens, todas moldadas a partir do mesmo busto belga art nouveau, partilham uma hilaridade colectiva da qual somos irremediavelmente excluídos. Esta encenação faz uma eco directa às teorias de Emmanuel Levinas sobre a alteridade radical. Quando Levinas fala da “epifania do rosto” como momento fundador da ética, Muñoz confronta-nos com rostos que nos devolvem a nossa própria estranheza. Estas figuras riem, mas o seu riso é uma barreira, uma linha de demarcação entre o mundo deles e o nosso.
A manipulação magistral do espaço arquitectónico por Muñoz encontra a sua expressão mais impressionante nos seus varandins suspensos. Estas estruturas impossíveis, flutuando no vazio como navios fantasmas, incorporam perfeitamente o que Martin Heidegger definia como “o ser-jogado” na sua análise da condição humana. Estes varandins não são meros elementos arquitectónicos descontextualizados, são metáforas tridimensionais da nossa própria suspensão na existência. Pendurados nas paredes das galerias a alturas cuidadosamente calculadas, criam o que o filósofo Gaston Bachelard chamava de “espaços poéticos”, lugares onde o sonho e a realidade se confundem.
As suas “Conversation Pieces”, esses grupos de figuras em resina poliéster ou em bronze que parecem perpetuamente envolvidas em conversas silenciosas, representam talvez a expressão mais acabada da sua visão artística. Estas personagens com os pés ausentes, como suspensas num entre-dois espacial e temporal, ilustram perfeitamente a teoria da “différance” desenvolvida por Jacques Derrida. O filósofo francês falava-nos deste jogo constante da presença e da ausência na construção do sentido. As figuras de Muñoz encarnam literalmente este conceito: estão fisicamente presentes mas eternamente ausentes no seu mutismo obstinado, criando uma tensão permanente entre o que é mostrado e o que é sugerido.
A utilização que Muñoz faz dos pisos ópticos é notável. Estas superfícies geométricas que criam ilusões de profundidade vertiginosas não são meros exercícios de estilo. Elas constituem uma manifestação física do que Maurice Merleau-Ponty descreveu na sua “Fenomenologia da percepção” como o entrelaçamento fundamental do corpo que percebe e do mundo percebido. Ao pisar estes pisos, o espectador experiencia fisicamente a instabilidade da sua percepção. É um golpe de mestre que faz parecer as instalações imersivas dos seus contemporâneos tão subtis como um concerto de heavy metal numa biblioteca.
A sua obra-prima “Double Bind”, instalada no Turbine Hall da Tate Modern em 2001, representa o auge desta abordagem. Esta instalação monumental, com os seus elevadores fantasmagóricos e figuras misteriosas que aparecem e desaparecem entre os pisos, cria aquilo que Guy Debord teria qualificado como “situação construída”. Transforma a experiência do visitante numa performance involuntária onde cada passo, cada olhar se torna parte integrante da obra. É exactamente isso que Walter Benjamin antecipava quando falava da perda da aura da obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, salvo que aqui Muñoz consegue o feito de criar uma aura nova, única para cada visitante.
A forma como ele manipula o espaço arquitetónico não deixa de recordar as teorias de Henri Lefebvre sobre a produção do espaço social. Para Lefebvre, o espaço não é um recipiente neutro, mas uma produção social complexa. As instalações de Muñoz materializam essa ideia ao criar zonas de tensão entre o real e o imaginário, entre o espaço percebido e o espaço vivido. As suas escadas que não levam a lado nenhum, os seus corrimãos isolados que sugerem espaços ausentes, tudo isso contribui para a criação de uma geografia emocional única.
Quando ele coloca um anão solitário no fim de um corredor ou suspende uma figura pela boca, Muñoz não procura o sensacionalismo fácil. Ele encena o que Julia Kristeva chama de abjeto, essa zona turva entre o sujeito e o objecto que nos fascina e nos repele simultaneamente. Estas obras confrontam-nos com as nossas próprias ansiedades existenciais, com o medo do isolamento, com a nossa relação ambígua com a alteridade. É um teatro do absurdo em três dimensões que teria feito sorrir Samuel Beckett.
A sua colaboração com o compositor Gavin Bryars para “A Man in a Room, Gambling” ilustra perfeitamente a sua compreensão do que Jacques Rancière denominou o “partilha do sensível”. Ao combinar explicações de truques de cartas com uma composição musical minimalista, Muñoz cria uma obra que transcende as fronteiras tradicionais entre as disciplinas artísticas. É uma exploração sofisticada dos limites entre verdade e ilusão, entre performance e realidade, que nos relembra que toda a arte é, em última análise, uma forma de prestidigitação mental.
A influência da literatura no seu trabalho é particularmente evidente na sua série de desenhos inspirados em Joseph Conrad. Estas obras em papel, frequentemente realizadas em impermeáveis pretos com giz branco, evocam a atmosfera opressiva e misteriosa das novelas do escritor. Elas lembram-nos que Muñoz era, acima de tudo, um contador de histórias, usando o espaço tridimensional como outros usam as palavras para criar narrativas complexas e ambíguas.
O seu uso do som e da rádio como meio artístico merece também a nossa atenção. As peças radiofónicas que ele criou, nomeadamente em colaboração com John Berger, exploram o que Roland Barthes chamou “o grão da voz”. Estas obras sonoras criam espaços mentais tão poderosos quanto as suas instalações físicas, demostrando a sua profunda compreensão de como o som pode esculpir a nossa percepção do espaço e do tempo.
A relação de Muñoz com a história da arte é particularmente complexa e sofisticada. As suas referências vão de Velázquez a Alberto Giacometti, da perspectiva barroca às experimentações espaciais do minimalismo. Mas, ao contrário de tantos artistas contemporâneos que se limitam a citações superficiais, Muñoz digere e transforma as suas influências para criar algo radicalmente novo. A sua reinterpretação do espaço barroco, por exemplo, não é um simples exercício de estilo, mas uma reflexão profunda sobre a natureza da percepção e da representação.
O tratamento que ele faz dos materiais tradicionais como o bronze ou a resina é igualmente revolucionário. Ao usar esses materiais nobres da escultura para criar figuras deliberadamente anti-heróicas, ele subverte as convenções do monumento público. As suas personagens não são figuras de autoridade, mas presenças perturbadoras que questionam a nossa relação com o espaço público e a comemoração.
A sua morte prematura em 2001 privou-nos de novas explorações dos territórios artísticos que começara a mapear. Mas a sua influência continua a ressoar na arte contemporânea como um eco persistente. Numa época em que a realidade virtual e aumentada borram cada vez mais as fronteiras entre o real e o virtual, as interrogações de Muñoz sobre a natureza da perceção e da representação são mais pertinentes do que nunca.
O génio de Muñoz não reside apenas na sua mestria técnica ou na sua capacidade de criar instalações espetaculares. A sua verdadeira façanha foi conseguir criar uma linguagem visual que fala diretamente ao nosso inconsciente coletivo, mantendo ao mesmo tempo um diálogo sofisticado com a história da arte e a filosofia contemporânea. Num mundo saturado de imagens e informações, a sua obra lembra-nos que a arte mais poderosa não é aquela que nos fornece respostas, mas aquela que nos força a questionar as nossas certezas mais fundamentais.
As suas instalações continuam a assombrar-nos precisamente porque se recusam a ser resolvidas numa única significação. Como as melhores obras de arte, mantêm-se abertas à interpretação, preservando a sua integridade formal e conceptual. É um equilíbrio precário que poucos artistas conseguem manter. Muñoz alcança-o com uma elegância que faz parecer o exercício fácil, quando na realidade é um dos desafios mais complexos da arte contemporânea.