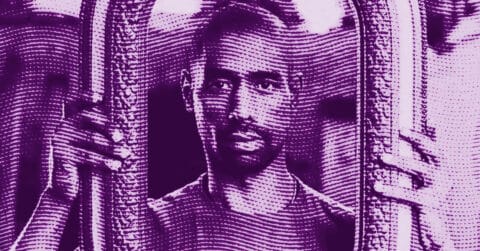Ouçam-me bem, bando de snobs, vou falar-vos de Kai Althoff, nascido em 1966 em Colónia, este artista que joga com os nossos nervos há mais de três décadas. Esqueçam tudo o que pensam saber sobre arte contemporânea, pois Althoff é a antítese perfeita do artista-empresário que a nossa época venera com uma devoção tão cega quanto patética.
Imaginem um criador que prefere trabalhar num modesto apartamento de dois quartos em vez de num daqueles ateliers vistosos onde os galeristas fazem as suas compras semanais. Um artista que ousou urinar nas suas próprias telas antes de as vender, que transformou uma galeria num bar underground, e que, no auge da insolência, apresentou uma simples carta de recusa como obra de arte na Documenta. Se ainda não estão a arrancar os cabelos de indignação, continuem a ler-me.
Nesta primeira parte, mergulhamos no que faz a singularidade de Althoff: a sua relação única com o espaço expositivo e a sua conceção radical da apresentação artística. Em 2016, durante a sua retrospectiva no MoMA, fez o impensável: deixou algumas obras nas suas caixas de embalagem, transformando o austero templo da arte moderna num armazém poético. Esta decisão não foi um mero desafio à instituição, mas uma reflexão profunda sobre a forma como consumimos arte hoje em dia.
O espaço museológico, sob a direção de Althoff, torna-se um teatro do absurdo onde as convenções são sistematicamente desviadas. Ele reveste os tectos com tecidos brancos, criando tendas improvisadas que evocam tanto os souks orientais como as cabanas infantis. Esta transformação lembra as teorias de Claude Lévi-Strauss sobre o bricolage como modo de pensamento criativo, onde os elementos são desviados da sua função original para criar novos sistemas de significado.
A cenografia de Althoff é um desafio à nossa conceção asséptica da arte contemporânea. Na Whitechapel Gallery em 2020, criou um diálogo improvável entre as suas obras e as do oleiro Bernard Leach, justapondo o artesanato tradicional e a arte contemporânea numa dança macabra que faria os puristas gritar. As vitrinas que concebeu, patinadas com uma ferrugem artificial e drapeadas com tecidos tecidos por Travis Joseph Meinolf, são como relicários profanos que celebram a beleza do imperfeito.
Esta abordagem iconoclasta da exposição insere-se numa tradição filosófica que remonta a Walter Benjamin e ao seu conceito de “aura” da obra de arte. Althoff não procura preservar a aura tradicional da arte, desconstrói-a conscientemente para criar uma nova, mais ambígua, mais perturbadora. As suas instalações são labirintos temporais onde as épocas colidem, onde o passado e o presente dançam uma valsa vertiginosa.
Nas suas exposições, as obras acumulam-se como camadas geológicas, criando uma arqueologia fictícia da memória coletiva. As pinturas estão penduradas a diferentes alturas, por vezes tão próximas do chão que é necessário agachar-se para as ver, por vezes tão elevadas que parecem flutuar no espaço. Esta disposição anárquica obriga o espectador a tornar-se um explorador ativo, desafiando a passividade tradicional da contemplação artística.
A segunda característica da obra de Althoff reside na sua abordagem única à representação humana e às dinâmicas comunitárias. Os seus quadros são habitados por figuras que parecem sair de um sonho febril: monges medievais convivem com punks, alunos em uniforme misturam-se com judeus hassídicos. Esta confluência improvável de personagens cria uma tensão narrativa que evoca as teorias de Mikhail Bakhtine sobre o carnavalesco e a polifonia.
Tomemos como exemplo as suas séries dedicadas à comunidade hassídica de Crown Heights, onde vive desde 2009. Estas obras não são simples documentos etnográficos, mas meditações complexas sobre a alteridade e a pertença. As figuras que pinta parecem suspensas entre diferentes estados de consciência, como se estivessem simultaneamente presentes e ausentes, familiares e estranhas.
A técnica pictórica de Althoff é tão singular quanto os seus temas. Utiliza uma paleta que parece ter sido desbotada pelo tempo: ocres desvanecidos, verdes musgo, azuis descoloridos. Estas cores criam uma atmosfera de melancolia que recorda as teorias de Roland Barthes sobre a fotografia e a noção de “isso já foi”. Mas, por vezes, uma cor viva irrompe na composição como um grito no silêncio, criando uma tensão dramática que electriza o conjunto.
As suas personagens são frequentemente representadas em momentos de interação intensa mas ambígua. Numa obra sem título de 2018, dois jovens partilham um momento de intimidade num campo de flores, sob um céu de um amarelo apocalíptico. Esta cena, simultaneamente terna e inquietante, ilustra perfeitamente a capacidade de Althoff para criar imagens que oscilam entre diferentes registos emocionais.
O artista não se limita a pintar comunidades, cria-as ativamente através da sua prática artística. As suas colaborações com outros artistas, músicos e artesãos testemunham um desejo profundo de transcender o individualismo dominante no mundo da arte contemporânea. A sua participação no grupo musical Workshop e as suas numerosas performances coletivas mostram que, para ele, a arte é acima de tudo uma experiência partilhada.
Esta dimensão coletiva do seu trabalho estende-se até à sua forma de conceber o papel do espectador. Nas suas instalações, o público não é um mero observador, mas torna-se parte integrante da obra. Os visitantes que se deslocam nos seus espaços labirínticos tornam-se atores involuntários num teatro da memória onde as fronteiras entre a realidade e a ficção se esbatem.
Os materiais que Althoff utiliza contribuem também para esta estética da ambiguidade. Pinta sobre suportes não convencionais: tecidos desgastados, papéis envelhecidos, cartões recuperados. Estas superfícies trazem já a sua própria história, criando um testemunho visual onde o passado transparece sob as camadas de pintura. Esta abordagem material recorda as reflexões de Georges Didi-Huberman sobre a sobrevivência das imagens e a sua capacidade de transportar a memória do tempo.
O artista leva ainda mais longe esta exploração dos materiais ao integrar objetos encontrados nas suas instalações. Manequins vintage, móveis gastos, tecidos antigos criam ambientes que se assemelham a cápsulas do tempo defeituosas, deixando escapar fragmentos de história no presente. Esta acumulação de objetos não deixa de lembrar as teorias de Walter Benjamin sobre o colecionador como figura melancólica da modernidade.
A prática de Althoff está profundamente enraizada numa reflexão sobre a temporalidade. As suas obras parecem existir num tempo suspenso, nem totalmente passado nem completamente presente. Esta abordagem temporal ecoa as reflexões de Maurice Merleau-Ponty sobre a perceção e a temporalidade, onde o tempo não é uma sucessão linear de instantes, mas uma dimensão fundamental do nosso ser-no-mundo.
A sua teimosa recusa das convenções do mundo da arte não é apenas uma postura rebelde. É uma posição ética que questiona profundamente os nossos modos de produção e receção da arte. Quando escolhe apresentar uma carta de recusa como obra de arte, não se limita a provocar, obriga-nos a repensar a nossa relação com a arte e a sua apresentação.
As instalações de Althoff funcionam como máquinas do tempo defeituosas, criando curtos-circuitos temporais onde diferentes épocas colidem. Nestes espaços, o espectador torna-se um arqueólogo do presente, escavando entre as camadas de significado para construir a sua própria narrativa. Esta abordagem lembra o conceito de “montagem” caro a Aby Warburg, onde diferentes imagens e épocas são justapostas para criar novas constelações de sentido.
A dimensão narrativa do seu trabalho é particularmente fascinante. As suas obras sugerem histórias sem nunca as contar completamente, deixando ao espectador o cuidado de preencher os vazios. Esta abordagem fragmentária da narrativa evoca as teorias de Walter Benjamin sobre a história como uma constelação de momentos, em vez de uma progressão linear.
A influência do expressionismo alemão é evidente no seu trabalho, mas Althoff não se limita a reciclar um estilo histórico. Cria antes uma síntese única que incorpora também elementos da arte medieval, da ilustração infantil e da arte popular. Esta fusão de estilos cria uma linguagem visual única que transcende as categorias tradicionais da história da arte.
A presença recorrente de figuras religiosas na sua obra, monges, rabinos, místicos, não é anedótica. Testemunha uma busca espiritual que atravessa todo o seu trabalho, uma procura de transcendência num mundo desencantado. Esta dimensão espiritual não deixa de lembrar as reflexões de Giorgio Agamben sobre a profanação como ato de resistência na sociedade contemporânea.
A arte de Althoff recorda-nos que a memória não é um simples depósito de imagens e experiências, mas um processo ativo de reconstrução e reinterpretacão. As suas obras convidam-nos a repensar a nossa relação com o tempo, a comunidade e a própria arte. Num mundo obcecado pela novidade e pela ruptura, lembra-nos que o passado nunca está realmente passado, continuando a assombrar o nosso presente como um fantasma benevolente.
Perante as suas obras, somos como essas figuras que ele pinta, suspensas entre diferentes temporalidades, procurando o nosso lugar numa história que recusa fixar-se. A sua arte recorda-nos que a verdadeira contemporaneidade talvez não resida na corrida desenfreada para o futuro, mas na nossa capacidade de manter um diálogo fértil com o passado, reconhecendo os ecos e ressonâncias que atravessam o tempo.
E se pensa que sou demasiado indulgente com este artista que parece divertir-se a contrariar as convenções, saiba que é precisamente disso que o nosso mundo da arte precisa: criadores que ousam questionar as nossas certezas, que nos obrigam a olhar para além das aparências, que transformam a nossa relação com a arte numa experiência viva e destabilizadora.
A arte de Althoff é um antídoto necessário à crescente padronização do mundo da arte contemporânea. Num contexto em que as obras são cada vez mais concebidas para as redes sociais e feiras de arte, a sua abordagem intransigente e pessoal é um lembrete salutar de que a arte ainda pode ser uma experiência profundamente transformadora. O seu trabalho mantém viva a possibilidade de uma experiência autêntica, mesmo que esta tenha de passar pelo desvio do sonho e da nostalgia.