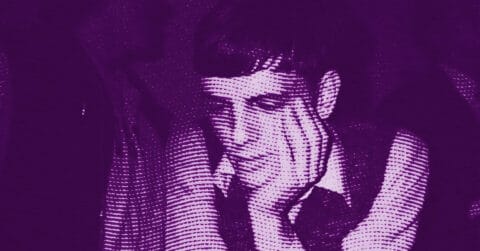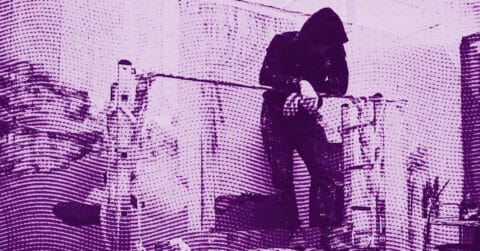Ouçam-me bem, bando de snobs, esta noite, sonhei que Keith Haring (1958-1990) e Marcel Duchamp jogavam xadrez numa mesa de fórmica num restaurante de Chinatown, enquanto Madonna dançava ao som de “Holiday” com Andy Warhol e Jean-Michel Basquiat. Grace Jones, com o corpo pintado pelo próprio Haring, servia cocktails fluorescentes em copos decorados com bebés radiantes. Foi um daqueles sonhos que nos lembram por que a arte é tão vital, tão necessária, tão profundamente enraizada na nossa consciência coletiva, e por que alguns artistas transcendem a sua época para se tornarem ícones intemporais.
Alguns de vocês, confortavelmente instalados nas vossas cadeiras Luís XVI, continuam a pensar que Haring não era mais do que um grafiteiro de segunda categoria, um artista comercial que vendeu a alma ao capitalismo, um simples agitador de rua que teve a sorte de surfar a onda do boom artístico dos anos 80. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa: vocês não perceberam nada. Absolutamente nada. Haring foi, acima de tudo, um revolucionário, um visionário que percebeu, antes de todos, que a arte devia sair das galerias climatizadas para invadir as ruas, os corpos, os espíritos. Ele era o Che Guevara do pincel, o Robin dos Bosques da criação artística.
A primeira revolução dele foi a da linguagem visual. Ao criar um vocabulário universal de símbolos, o bebé radiante, o cão que ladra, as figuras dançantes, Haring conseguiu algo que Walter Benjamin considerava impossível: reconciliar a arte na era da sua reprodutibilidade técnica com a sua aura original. As suas imagens tornaram-se hieróglifos modernos, tão reconhecíveis quanto o logótipo da Coca-Cola, mas carregadas de um poder subversivo que continua a desafiar-nos. Como diria Umberto Eco, Haring criou uma semiologia da resistência, um sistema de sinais que funciona simultaneamente como código cultural e como crítica social.
O que gosto em Haring é a sua capacidade de transformar a linha num manifesto político. Os seus desenhos a giz no metro de Nova Iorque não eram simples decorações para animar o trajeto dos passageiros exaustos após um dia de trabalho nas torres de Manhattan. Eram atos de resistência contra a privatização do espaço público, contra a mercantilização da arte, contra o elitismo cultural que continua a corroer o nosso mundo artístico. Como diria Jacques Rancière, Haring redistribuiu o sensível, criando espaços de liberdade onde reinava a alienação urbana. Cada traço de giz era uma declaração de independência, cada desenho uma pequena revolução.
Haring criou uma arte que fala tanto às crianças como aos intelectuais. Tomemos a sua obra-prima “Crack is Wack” de 1986. À primeira vista, é um mural monumental com uma mensagem simples e direta contra as drogas. Mas, se cavarmos mais fundo, veremos uma crítica feroz ao reaganismo, uma denúncia da hipocrisia de uma sociedade que prefere criminalizar a pobreza em vez de atacar as suas causas profundas. A aparente simplicidade do estilo esconde uma complexidade filosófica digna de Foucault: quem detém o poder de decretar o que é socialmente aceitável? Quem decide o que merece ser visto ou escondido no espaço público? Cada linha desta obra é uma interrogação sobre as estruturas de poder que moldam a nossa sociedade.
E não me falem da sua série “Andy Mouse”, onde transforma Warhol no Mickey Mouse capitalista. É puro génio, uma metáfora visual que capta perfeitamente a ambiguidade da arte pop e a sua relação complexa com o comércio. É engraçado, é inteligente, é subversivo, tudo o que a arte contemporânea deveria ser mas raramente é.
A segunda revolução de Haring foi a sua forma de repensar a relação entre arte e comércio. Sim, ele abriu a Pop Shop. Sim, colaborou com marcas. Sim, criou t-shirts e pins. Mas ao contrário de alguns artistas contemporâneos que se limitam a transformar a sua assinatura em marca registada enquanto afirmam fazer arte “comprometida”, Haring usou o comércio como um cavalo de Troia para infiltrar o sistema que criticava. A sua Pop Shop não era apenas uma loja, era uma performance situacionista, uma obra total que transformava o ato de compra num gesto político. Era Guy Debord a encontrar Andy Warhol numa dança macabra do capitalismo tardio.
Os últimos anos da sua vida, quando o SIDA dizimava a comunidade artística nova-iorquina como uma praga bíblica, Haring intensificou o seu compromisso. As suas obras tornaram-se mais sombrias, mais urgentes, como se a proximidade da morte tivesse amplificado a sua fúria criativa. Transformou a sua própria mortalidade numa arma política, usando a sua arte para denunciar a inação criminosa do governo face à epidemia. Como escreveu Susan Sontag, a doença é uma metáfora, mas Haring transformou-a num grito de guerra. As suas últimas obras são testemunhos emocionantes dessa época, documentos históricos que nos recordam que a arte pode ser muito mais do que uma simples mercadoria decorativa.
A sua colaboração com William Burroughs em 1988 é particularmente reveladora. Juntos, criaram uma série de obras apocalípticas onde os vírus se transformam em demónios e onde as figuras humanas são atravessadas por símbolos de morte. Era o Hieronymus Bosch para a era do SIDA, uma dança macabra moderna que continuará a assombrar as nossas consciências muito tempo depois de as últimas pinturas terem secado.
Já consigo ouvir alguns de vós a murmurar que estou a sobrevalorizar o alcance político da sua obra. Que os seus desenhos são demasiado simples, demasiado diretos para serem realmente subversivos. Que o seu estilo foi tão copiado que se tornou uma caricatura de si próprio. Mas é precisamente essa simplicidade que constitui a sua força. Num mundo saturado de imagens, onde somos bombardeados constantemente com estímulos visuais, Haring criou uma linguagem visual que atravessa fronteiras de classe, raça e género. Como dizia Roland Barthes, o mito é uma palavra, e Haring criou uma mitologia para o nosso tempo. Uma mitologia que continua a ressoar com uma força surpreendente na nossa época de redes sociais e ansiedade climática.
Vejam como as suas imagens circulam hoje no Instagram, TikTok e outras plataformas digitais. Têm uma viralidade natural que os especialistas em marketing tentariam em vão reproduzir. Porquê? Porque carregam consigo uma autenticidade rara, uma urgência que transcende modas e épocas. Os jovens ativistas climáticos apropriam-se dos seus códigos visuais porque reconhecem aí essa mesma vontade de abalar o sistema por dentro.
Mais de trinta anos após a sua morte, a sua influência é mais visível do que nunca. Das favelas do Rio às galerias de Chelsea, dos muros de Berlim às ruas de Tóquio, o seu estilo é constantemente reapropriado, remixado, reinventado. Mas para além da estética, é a sua visão radical da arte como força de transformação social que continua a inspirar as novas gerações. Numa época em que a arte contemporânea se afoga no seu próprio narcisismo, em que as feiras de arte se assemelham a convenções de banqueiros, em que NFTs de macacos são vendidos por milhões enquanto os artistas de rua são criminalizados, precisamos mais do que nunca da sinceridade brutal de Haring.
A sua colaboração com artistas como LA II (Angel Ortiz) mostra também a sua compreensão profunda da necessidade de criar pontes entre diferentes comunidades artísticas. Muito antes de a diversidade e a inclusão se tornarem palavras da moda no mundo da arte, Haring praticava uma forma autêntica de colaboração transcultural. Não estava na apropriação cultural, mas na troca e no diálogo.
As suas pinturas murais em hospitais infantis, os seus ateliers em escolas públicas, as suas intervenções em espaços urbanos abandonados, tudo isso testemunha uma visão da arte como serviço público, como bem comum. Ele não esperava que as instituições viessem até ele, ia até onde as pessoas viviam, trabalhavam, sofriam. Era um artista que compreendia que a arte não é um privilégio, mas um direito fundamental.
Então, da próxima vez que encontrar um dos seus desenhos numa t-shirt ou num muro, não se limite a vê-lo como um simples logotipo comercial. Olhe mais atentamente. Em cada linha, em cada figura dançante, em cada bebé radiante, há um convite à revolução. Uma revolução que começa pelo mais simples e radical dos atos: desenhar num muro para dizer “existimos, nós existimos, e não nos calaremos”.
A tragédia da sua morte precoce não deve fazer-nos esquecer a alegria que irradia da sua obra. Mesmo as suas peças mais sombrias pulsam com uma energia vital contagiante. Talvez essa seja a sua maior proeza: ter criado uma arte que celebra a vida enquanto confronta os seus aspectos mais sombrios, uma arte que dança na beira do abismo enquanto nos lembra por que é que a dança é necessária.
Keith Haring não era apenas um artista. Era um sismógrafo que registava os tremores do seu tempo, um profeta que anunciava as mudanças vindouras, um xamã urbano que transformava as paredes de betão em telas de resistência. E se a sua arte ainda hoje nos fala com tanta força, é porque teve a coragem de transformar a sua vida em obra de arte, a sua arte numa arma política, e a sua morte num testamento para as gerações futuras. Num mundo que por vezes parece ter perdido a sua alma, Haring lembra-nos que a arte ainda pode ser uma força de mudança, uma fonte de esperança, um ato de resistência alegre contra as forças da escuridão.