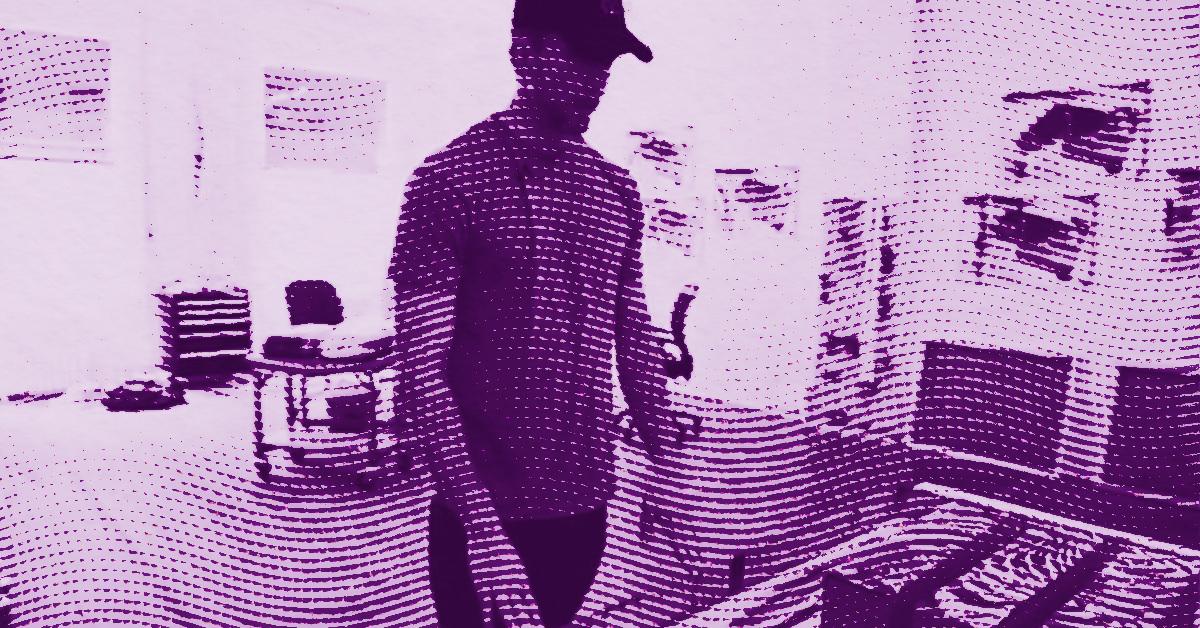Ouçam-me bem, bando de snobs: Kelley Walker não é apenas mais um artista contemporâneo americano que brinca com a apropriação de imagens. Ele encarna uma geração de artistas que navega no oceano tóxico da nossa cultura mediática, armados com scanners, ecrãs serigráficos e uma consciência aguda dos mecanismos perversos do capitalismo. Nascido em 1969, Walker pertence a essa coorte que cresceu com a explosão dos meios de comunicação de massa e o advento do digital, período histórico em que as imagens começaram a proliferar exponencialmente, perdendo progressivamente a sua referência para se tornarem pura circulação.
A obra de Walker articula-se em torno de uma proposta simples mas terrivelmente eficaz: o que se torna uma imagem quando transita pelos circuitos de reprodução industrial? Como é que os signos culturais se transformam em mercadorias e vice-versa? As suas séries mais conhecidas, Black Star Press, Schema, ou ainda os seus Rorschach em espelho, constituem tantos laboratórios de experimentação sobre a materialidade das imagens e a sua circulação na economia simbólica contemporânea.
Em Black Star Press (2004-2005), Walker apodera-se de uma fotografia emblemática do movimento dos direitos civis: a tirada por Bill Hudson em 1963 em Birmingham, mostrando um jovem manifestante negro, Walter Gadsden, atacado por um cão policial. Esta imagem, já apropriada por Andy Warhol nas suas Race Riot de 1963-1964, sofre em Walker uma série de manipulações: rotação, inversão, serigrafia em cores Coca-Cola e, sobretudo, cobertura por fluxos de chocolate derretido (branco, de leite, preto) reproduzidos mecanicamente. O gesto não é inocente: questiona a forma como a história da violência racial americana é suavizada, “chocolateada”, transformada em produto consumível.
A série Schema (2006) procede segundo uma lógica semelhante mas desloca o terreno para a sexualização dos corpos femininos negros. Walker apropria-se de capas da revista masculina King, que representam mulheres negras em poses eróticas convencionais, que ele cobre com vestígios de pasta dentífrica digitalizados e integrados digitalmente. A referência à higiene bucal não é fortuita: evoca simultaneamente a limpeza, o branqueamento e, por extensão metafórica, os processos de assepsia mediática.
A crítica institucional como programa estético
A abordagem de Walker insere-se numa tradição crítica que tem as suas origens na arte conceptual dos anos 1960-1970, mas distingue-se pela sua consciência das mutações do capitalismo contemporâneo. Ao contrário dos artistas da crítica institucional clássica, Walker não se limita a denunciar os mecanismos do mundo da arte; ele incorpora-os na sua prática, criando uma arte que funciona simultaneamente como mercadoria e como crítica da mercantilização.
Esta posição ambivalente encontra a sua expressão mais acabada nas suas obras distribuídas em CD-ROM, acompanhadas da instrução de que o comprador pode modificar, reproduzir e difundir as imagens à sua vontade. Walker radicaliza assim a lógica mercantil até ao absurdo: o cliente torna-se co-produtor, a obra multiplica-se infinitamente, a propriedade artística evapora-se. Esta estratégia recorda as análises que Guy Debord desenvolveu em La Société du spectacle [1], onde mostrava como o capitalismo avançado transforma toda a experiência em imagem consumível. Em Walker, esta lógica espetacular é levada até ao seu ponto de rutura, revelando as suas contradições internas.
O artista americano não se limita a criticar; ele performa a lógica mercantil em si. Os seus objetos-esculturas, como os seus medalhões dourados em forma de símbolo de reciclagem ou os seus Rorschach em espelho, funcionam como produtos de luxo ao mesmo tempo que revelam os mecanismos de desejo e projeção que ativam. O espectador encontra-se preso num dispositivo que o institui simultaneamente como voyeur, consumidor e cúmplice.
Esta estratégia de “sobreidentificação”, para usar um termo de Slavoj Žižek, permite a Walker revelar as contradições do sistema sem se colocar numa posição de superioridade moral. Não há nele nostalgia por uma idade de ouro da arte nem crítica frontal ao capitalismo, mas sim uma exploração paciente das zonas cinzentas onde se negociam os nossos desejos e as nossas repulsas.
Arquitetura da memória e política do esquecimento
A obra de Walker dialoga constantemente com a história da arte americana, mas segundo uma modalidade particular que evoca as reflexões do historiador Pierre Nora sobre os “lugares de memória”. Em Nora, os lugares de memória emergem precisamente quando a memória viva desaparece, quando é necessário construir artificialmente aquilo que já não existe espontaneamente. Walker procede de forma semelhante com as imagens: ele as exuma do fluxo mediático no momento mesmo em que correm o risco de cair no esquecimento, mas essa ressurreição passa pela sua transformação em objetos estéticos ambíguos.
As suas referências a Warhol não são uma homenagem mas uma arqueologia crítica. Quando Walker retoma a fotografia de Birmingham utilizada por Warhol, ele não procura restaurar a sua carga política original mas interrogar os mecanismos pelos quais essa carga se foi progressivamente atenuando. O chocolate que cobre a imagem funciona como um testemunho subjetivo: ele esconde e revela simultaneamente, cria uma distância temporal que nos permite medir o caminho percorrido entre os anos 1960 e hoje.
Esta dialética da memória e do esquecimento atravessa toda a sua obra. Na sua série Disasters (2002), Walker apropria-se de imagens de catástrofes publicadas nas compilações fotográficas da Time-Life, que ele cobre com pontos coloridos que recordam as pinturas de Larry Poons. Estes pontos funcionam como tantos “obturadores” visuais que tornam a imagem quase ilegível ao mesmo tempo que atraem a atenção para ela. A catástrofe torna-se motivo decorativo, mas esse próprio processo revela a nossa relação anestesiada com a violência mediática.
A abordagem de Walker encontra aqui um eco particular nos trabalhos de Pierre Nora sobre a transformação da história em património [2]. Como o historiador francês demonstrou, as nossas sociedades contemporâneas são obcecadas pela memória precisamente porque perderam o contacto direto com o seu passado. Walker parece ilustrar visualmente este paradoxo: as suas obras são “monumentos” a imagens em vias de desaparecimento, mas monumentos que revelam a artificialidade da sua própria construção.
A dimensão memorial do seu trabalho permite compreender por que as suas obras suscitaram tais polémicas, nomeadamente durante a sua exposição no Contemporary Art Museum de Saint-Louis em 2016. Os manifestantes que exigiam a retirada das suas obras criticavam Walker por “desumanizar” as vítimas da violência racial. Esta crítica, embora compreensível no plano emocional, talvez não capte o verdadeiro ponto: Walker não desumaniza estas imagens, ele revela a sua desumanização já ocorrida nos circuitos mediáticos. O seu gesto artístico funciona como um reagente químico que faz emergir processos geralmente invisíveis.
O modernismo à prova do digital
A prática de Walker questiona também as categorias estéticas herdadas do modernismo, nomeadamente a distinção entre original e reprodução, autenticidade e simulação. As suas obras funcionam segundo uma lógica pós-aurática assumida: foram desde logo concebidas para serem reproduzidas, modificadas e adaptadas. Esta posição prolonga as intuições de Walter Benjamin sobre a arte na época da sua reprodutibilidade técnica, mas num contexto em que essa reprodutibilidade se tornou total e instantânea.
A utilização de softwares como Photoshop ou Rhino 3D no seu processo criativo não é uma simples ferramenta técnica, mas uma dimensão constitutiva da sua estética. Walker delega certas decisões formais ao algoritmo, criando uma arte da “pós-produção” onde a distinção entre criação e manipulação se esbate. Esta abordagem aproxima-o de artistas como Seth Price ou Wade Guyton, com quem colaborou aliás no coletivo Continuous Project.
Mas Walker não se limita a explorar as possibilidades do digital; ele também revela os seus impasses. As suas obras em CD-ROM, por exemplo, questionam o fantasma da democratização tecnológica: o que acontece à arte quando toda a gente pode tornar-se produtor de imagens? A resposta de Walker é matizada: essa democratização formal acompanha-se de uma padronização estética que reproduz, a um outro nível, as lógicas de dominação que pretende subverter.
Os seus símbolos de reciclagem, recorrentes na sua obra, funcionam como metáforas desta economia circular das imagens. Mas ao contrário da reciclagem material, a reciclagem simbólica não produz nenhuma economia de meios: gera, pelo contrário, uma proliferação infinita de signos que acabam por se autoanular. Walker revela assim o carácter potencialmente entrópico da nossa cultura digital.
Esta tensão entre possibilidades tecnológicas e limites simbólicos atravessa toda a sua obra. As suas instalações na Paula Cooper Gallery, onde apresenta centenas de painéis derivados de publicidades Volkswagen, encarnam fisicamente esta problemática: a abundância formal confina à saturação, a riqueza informacional transforma-se em ruído branco. A experiência estética oscila entre fascinação e esgotamento, revelando a nossa relação ambivalente com a sobrecarga informacional contemporânea.
Rumo a uma estética da cumplicidade crítica
A obra de Kelley Walker não propõe nem solução nem alternativa ao capitalismo contemporâneo. Ela revela antes os seus mecanismos íntimos, as formas como ele coloniza o nosso imaginário e molda os nossos desejos. Esta posição pode parecer desconfortável, até cínica, mas possui um valor heurístico inegável: permite-nos compreender como nos tornámos todos, pouco ou muito, cúmplices ativos do sistema que pretendemos criticar.
Walker pratica o que se poderia chamar de “estética da cumplicidade crítica”. Ele não se coloca numa posição de exterioridade em relação às lógicas mercantis, mas revela as suas contradições a partir do interior. As suas obras funcionam como vírus no sistema: adotam os seus códigos para melhor os perturbar. Esta estratégia não está isenta de riscos, pode ser facilmente recuperada pelo mercado que pretende criticar, mas tem a vantagem da lucidez.
No momento em que as imagens circulam a uma velocidade e conforme lógicas que ultrapassam largamente a nossa capacidade de compreensão, a arte de Walker oferece uma pausa reflexiva valiosa. Ele obriga-nos a abrandar, a olhar mais de perto essas imagens que consumimos mecanicamente. Revela a densidade histórica e política de signos aparentemente anodinos. Lembra-nos que por trás de cada imagem se esconde uma economia complexa de desejos, poderes e afetos.
A arte contemporânea tem sido frequentemente acusada de condescendência com as lógicas mercantis que pretende criticar. Walker assume plenamente essa contradição e faz dela o próprio material da sua prática artística. Essa honestidade paradoxal constitui talvez a sua principal força: em vez de nos embalar com ilusões sobre a pureza possível da arte, confronta-nos com a nossa condição comum de seres apanhados nas redes do espetáculo mercantil. Esse confronto, por desconfortável que seja, constitui sem dúvida um pré-requisito necessário para qualquer verdadeira transformação das nossas relações com o mundo e com as imagens.
Num contexto em que as questões de representação e apropriação cultural se tornaram centrais nos debates artísticos, a obra de Walker convida a ir além das posturas moralistas para interrogar mais fundamentalmente as condições materiais e simbólicas de produção das imagens. A sua arte não responde à pergunta sobre quem tem o direito de representar o quê, mas revela os mecanismos pelos quais essa questão em si é produzida e instrumentalizada pelas lógicas espetaculares contemporâneas.
- Guy Debord, A Sociedade do espetáculo, Paris, Buchet-Chastel, 1967.
- Pierre Nora (org.), Os Lugares da Memória, Paris, Gallimard, 1984-1992, 3 volumes.