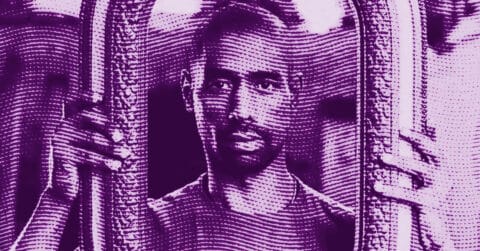Ouçam-me bem, bando de snobs! Mark Bradford (nascido em 1961 nos Estados Unidos) é um dos poucos artistas que ainda me dá esperança neste mundo saturado de ego e de vacuidade conceptual. Enquanto alguns se extasiam diante de quadrados brancos pensando que estão a mostrar inteligência, Bradford literalmente cava na carne de Los Angeles para extrair a sua essência.
Vou falar-vos de dois aspetos fundamentais do seu trabalho que transcendem a simples noção de estética para atingir algo mais profundo, mais visceral. Algo que provavelmente faria desmaiar os pequenos burgueses que confundem arte moderna e arte contemporânea nos seus salões dourados.
Primeiro, a sua técnica de escavação urbana. Bradford não pinta, ele arranca. Ele não compõe, ele decompõe. As suas obras monumentais, algumas com mais de 3 metros de altura, são criadas a partir de camadas sucessivas de cartazes publicitários, folhetos e papéis encontrados nas ruas de South Central Los Angeles. Ele acumula-os, cola-os e depois arranca-os parcialmente com ferramentas elétricas, criando assim uma arqueologia do presente. Esta abordagem ecoa o pensamento de Walter Benjamin sobre as ruínas da modernidade, onde cada camada revela uma história oculta da cidade.
Mas Bradford vai além de Benjamin. Ele não se limita a observar as ruínas, ele cria-as ativamente para revelar o que está escondido por trás da fachada polida da sociedade americana. Quando usa uma lixadora elétrica para atacar a superfície das suas obras, é como se realizasse uma dissecção urbana, revelando os tecidos cicatriciais de uma cidade marcada por motins, pobreza e segregação. Isto não deixa de lembrar o conceito de “sociedade do espetáculo” de Guy Debord, onde a realidade social é mediada por imagens. Bradford desconstrói literalmente esse espetáculo, camada após camada.
O segundo aspecto do seu trabalho é o seu mapeamento social. As suas obras, vistas de longe, frequentemente evocam vistas aéreas de zonas urbanas, mapas abstratos de territórios imaginários. Mas aproxime-se, e descobrirá que esses “mapas” são compostos por anúncios de penhores, publicidade para testes de ADN de paternidade, ofertas de soluções de realojamento… É um atlas da precariedade urbana que ele nos apresenta, uma geografia da sobrevivência diária.
Esta abordagem cartográfica não deixa de lembrar a “psicogeografia” dos situacionistas, mas Bradford reinventa-a completamente. Onde Guy Debord e os seus camaradas quebrouam em Paris para revelar as zonas de atração e repulsão emocionais, Bradford mapeia as zonas de tensão social, as linhas de fractura económicas, as fronteiras invisíveis que segmentam as nossas cidades.
Veja a sua obra “Scorched Earth” (2006), um mapa abstrato do massacre racial de Tulsa em 1921. À primeira vista, a obra parece uma vista de satélite de uma zona urbana devastada. Mas na realidade, é uma meditação profunda sobre a violência sistémica e a memória coletiva. As camadas de papel queimado e rasgado tornam-se uma metáfora poderosa da história apagada, das vidas destruídas, das cicatrizes que nunca realmente saram.
E enquanto vejo alguns colecionadores maravilharem-se com as suas obras falando apenas da sua “beleza formal”, como se a beleza fosse o único critério relevante na arte contemporânea, Bradford continua o seu trabalho de arqueólogo social. Ele cava, ele raspa, ele revela. Cada passagem de lixa é um ato de resistência contra a amnésia coletiva, cada camada de papel rasgada é uma estrato de verdade exposta.
As suas obras são testemunhos urbanos que nos lembram que a história nunca é realmente apagada, apenas coberta por novas camadas de mentiras e esquecimento. É o que Derrida chamava a “traça”, essa presença-ausência que assombra as nossas sociedades. Bradford torna essas traças visíveis, tangíveis, impossíveis de ignorar.
Bradford transforma materiais ordinários em documentários extraordinários. Esses anúncios baratos, esses cartazes rasgados tornam-se, nas suas mãos, documentos históricos, provas materiais da luta diária pela sobrevivência nos bairros desfavorecidos. Há algo profundamente foucaultiano nesta abordagem, uma arqueologia do saber aplicada à arte contemporânea.
As suas obras monumentais, algumas alcançando as impressionantes dimensões de 15 metros de comprimento, obrigam-nos a confrontar a realidade social numa escala que desafia qualquer tentativa de minimização ou evasão. É arte que se recusa a ser ignorada, que exige ser vista, que força a confrontação.
Quando Bradford representou os Estados Unidos na Bienal de Veneza em 2017, alguns críticos falaram dele como o “Pollock do nosso tempo”. Que disparate! Bradford não é Pollock, é Bradford. Ele não precisa ser comparado com os grandes mestres brancos para ser legitimado. O seu trabalho basta por si só, na sua potência bruta e pertinência social.
A sua instalação “Mithra” (2008) em Nova Orleães, um arco monumental de 21 metros de comprimento construído com painéis de contraplacado recuperados, foi muito mais do que uma simples escultura. Foi um monumento aos sobreviventes do furacão Katrina, uma acusação silenciosa contra o abandono institucional, um lembrete de que a arte pode e deve ser uma testemunha do seu tempo.
O que me agrada em Bradford é que ele cria obras que funcionam tanto como documentos sociais quanto como objetos estéticos autónomos. Ele nunca sacrifica um em detrimento do outro. A beleza formal das suas composições não diminui a sua mordacidade política; pelo contrário, reforça-a, tornando-a mais impactante.
A utilização que ele faz dos end-papers, esses pequenos papéis usados para permanentes em cabeleireiros, como material artístico, não é apenas uma referência autobiográfica ao seu passado de cabeleireiro. É uma transformação alquímica do banal em extraordinário, uma elevação do quotidiano a arte que teria feito Marcel Duchamp sorrir.
Bradford prova que a arte contemporânea ainda pode ter significado, que ainda pode falar-nos do nosso mundo, das nossas lutas, das nossas esperanças. Ele não precisa de se refugiar no hermetismo conceptual ou na provocação fácil para ser relevante.
Então sim, as suas obras vendem-se por milhões de euros. E depois? A ironia do mercado da arte, que transforma a crítica social num produto de luxo, não diminui a potência do seu trabalho. Pelo contrário, apenas reforça a pertinência da sua crítica.
Bradford é o artista de que precisamos nestes tempos de confusão e amnésia coletiva. As suas obras são lembretes constantes de que a arte ainda pode ser uma ferramenta de resistência, uma forma de preservar a memória, uma maneira de tornar visível o invisível.
E enquanto alguns continuarão a maravilhar-se com Jonone nas suas conversas de salão, Bradford continuará a escavar as entranhas das nossas cidades, a revelar as suas histórias escondidas, a forçar-nos a olhar para aquilo que preferimos ignorar. Isto é a verdadeira arte contemporânea. Tudo o resto não passa de distração estética para burgueses aborrecidos.