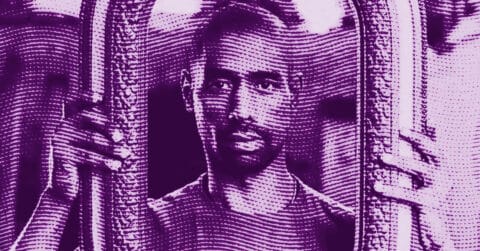Ouçam-me bem, bando de snobs. Nick Brandt, nascido em 1964 em Londres, não é apenas um simples fotógrafo de vida selvagem que dispara ráfagas de zebras com uma teleobjetiva desde o seu 4×4 climatizado. Ele é o Théodore Géricault do nosso tempo, imortalizando não a jangada da Medusa, mas o naufrágio final do nosso mundo natural. E se pensam que esta comparação é exagerada, é porque não compreenderam a potência da sua obra.
Comecemos pelo seu modo revolucionário de abordar a fotografia de vida selvagem. Enquanto a maioria dos fotógrafos de vida selvagem se esconde atrás das suas teleobjetivas gigantes para captar cenas de ação espetaculares, Brandt faz exatamente o oposto. Aproxima-se dos seus sujeitos com uma simples Pentax 67II e objectivas fixas, como se estivesse a fazer retratos de estúdio.
A técnica dele é de uma ousadia quase insana. Imagine por um instante o que significa fotografar um leão a poucos metros com uma câmara de médio formato que faz um barulho de martelo pneumático a cada disparo. Isso não é fotografia, é roleta russa estética. Mas é precisamente essa proximidade física que dá às suas imagens a sua força metafísica. Quando olha para os seus retratos de elefantes a preto e branco, não vê simplesmente paquidermes, está perante seres dotados de consciência que o encaram desde a beira da extinção.
A forma como ele usa o preto e branco é magistral. Não é uma escolha estética fácil para parecer “artístico”, como fazem muitos fotógrafos medíocres. Não, o seu preto e branco é tão afiado quanto uma lâmina de barbear. Ele despede as suas imagens de toda distração cromática para nos forçar a ver o essencial: a presença pura dessas criaturas, a sua dignidade intrínseca, a sua vulnerabilidade absoluta. É isso que o filósofo Emmanuel Levinas chamava “o rosto do outro”, essa presença que nos impõe uma responsabilidade ética incontornável.
Na sua série “On This Earth”, Brandt mostra-nos animais que parecem já ser fantasmas. As zebras emergem da neblina como espectros de um passado em extinção. As girafas recortam-se contra o céu como hieróglifos de uma linguagem que estamos a esquecer. Cada imagem é uma elegia visual, um memento mori para o Antropoceno. Esta abordagem relembra os trabalhos de Bernd e Hilla Becher sobre estruturas industriais, mas em vez de documentar os vestígios da revolução industrial, Brandt cataloga as vítimas dessa mesma revolução.
Mas é com “This Empty World” que o seu trabalho atinge uma dimensão verdadeiramente profética. Esta série é um murro no estômago da nossa consciência coletiva. Brandt constrói cenários gigantescos no meio da savana, postos de abastecimento, canteiros de obra, estradas, criando colisões visuais entre o mundo natural e a nossa civilização industrial que fazem “Blade Runner” parecer uma comédia romântica. A proeza técnica é alucinante: ele instala câmaras com sensores de movimento, espera durante meses que os animais se habituem às estruturas, depois completa os cenários e adiciona humanos. O resultado é de uma violência simbólica incrível.
Veja esta imagem de um elefante perdido num canteiro de obras noturno. Os trabalhadores, absorvidos pelos seus telemóveis, ignoram completamente a sua presença majestosa. A luz artificial cria uma atmosfera de pesadelo que relembra as pinturas de Hopper, mas em vez da solidão urbana, é a alienação ambiental que é encenada. O elefante torna-se num memento mori monumental, um lembrete do que estamos a perder na nossa corrida desenfreada rumo ao “progresso”.
Esta série ecoa as teorias da antropóloga Anna Tsing sobre o que ela chama “as ruínas do capitalismo”. Mas Brandt vai mais longe: não se limita a documentar essas ruínas, cria alegorias visuais que nos forçam a confrontar a nossa própria barbárie. Cada imagem é uma acusação, uma profecia, uma lamentação.
A série “Across The Ravaged Land” leva ainda mais longe esta reflexão sobre a nossa capacidade de destruição. As imagens dos guardiões segurando as defesas de elefantes caçados furtivamente têm uma potência trágica que recorda as pietàs do Renascimento. Mas em vez da mãe de Cristo segurando o corpo do seu filho, vemos homens a segurar os restos de criaturas massacradas para satisfazer a vaidade humana. É o que o filósofo Theodor Adorno teria chamado uma “imagem dialética”, uma imagem que revela as contradições fundamentais da nossa civilização.
Os retratos de animais petrificados pelo lago Natron são talvez as imagens mais perturbadoras desta série. Estas criaturas calcificadas, congeladas em poses que lembram os moldes de Pompéia, tornam-se monumentos à nossa indiferença coletiva. É Géricault a encontrar Joel-Peter Witkin, o sublime e o horror fundidos numa só imagem.
Com “The Day May Break”, Brandt eleva a sua arte a um novo nível de complexidade conceptual. Esta série de retratos de humanos e animais na névoa, todos vítimas das alterações climáticas, é de uma beleza insuportável. A névoa artificial que envolve os seus sujeitos não é um simples efeito estético, é uma metáfora visual do nosso cegamento coletivo. Cada imagem é construída como uma pintura renascentista, com uma atenção meticulosa à composição e à luz, mas a mensagem é decididamente contemporânea.
Os retratos são acompanhados por testemunhos emocionantes: agricultores que perderam as suas terras por causa da seca, famílias deslocadas por inundações catastróficas, animais salvos in extremis da extinção. É o que o filósofo Jacques Rancière chama o “partilha do sensível”, uma redistribuição do que é visível e dicível na nossa sociedade. Brandt dá uma voz e um rosto aos que geralmente são invisíveis no discurso sobre as alterações climáticas.
A sua última série, “SINK / RISE”, fotografada nas Fiji, é talvez a sua criação mais audaciosa até agora. Estes retratos subaquáticos de insulares ameaçados pela subida das águas têm uma ironia arrepiante. Os sujeitos são fotografados a realizar atividades diárias, sentados em sofás, em pé em cadeiras, mas debaixo de água. É realismo mágico a encontrar o documentário ambiental. As imagens lembram as instalações de Bill Viola, mas em vez de explorar a espiritualidade, confrontam a realidade brutal das alterações climáticas.
O que é particularmente marcante em “The Echo of Our Voices”, a sua série mais recente, é a forma como liga a crise climática à crise dos refugiados. Ao fotografar famílias sírias na Jordânia, segundo país mais afetado pela escassez de água no mundo, Brandt mostra como as catástrofes ambientais e humanas estão indissociavelmente ligadas. Os retratos de famílias empoleiradas em montes de caixas que se elevam para o céu têm um poder simbólico extraordinário, uma verticalidade que sugere tanto a precariedade como a resiliência.
A técnica de Brandt é tão rigorosa quanto a sua visão é implacável. Para “This Empty World”, desenvolveu um processo complexo que implica sistemas de iluminação elaborados, sensores de movimento e cenários monumentais. Cada imagem é o resultado de meses de preparação e espera. Esta paciência monástica recorda os grandes fotógrafos do século XIX, mas posta ao serviço de uma urgência muito contemporânea.
Alguns críticos reduzem o seu trabalho a “fotografia de conservação” ou a “fotojornalismo ambiental”. Que absurdo! Brandt é um artista conceptual que utiliza a fotografia como meio para criar uma nova mitologia visual do Antropoceno. As suas imagens não são documentos, são visões, profecias, manifestos visuais.
A forma como utiliza a iluminação artificial nas suas cenas nocturnas é particularmente notável. Essas luzes cruas, que recordam as pinturas de Georges de La Tour, criam uma atmosfera de teatro apocalíptico. As sombras projetadas tornam-se tão importantes quanto os próprios sujeitos, criando uma coreografia visual complexa que evoca as gravuras de Piranesi.
O que distingue Brandt de tantos outros fotógrafos contemporâneos é a sua recusa absoluta do cinismo. Num mundo artístico onde a ironia se tornou uma pose por defeito, ele ousa ser sincero até ao âmago. A sua raiva é real, a sua compaixão é real, o seu desespero é real. É o que o filósofo Jean-Paul Sartre chamava de compromisso, uma arte que não se limita a refletir o mundo, mas que procura transformá-lo.
O seu trabalho com a Big Life Foundation, que cofundou em 2010, demonstra que não se limita a documentar a destruição, mas age concretamente para a combater. Esta fusão de arte e ativismo recorda as vanguardas do início do século XX, mas com uma urgência ainda maior. Porque, ao contrário dos surrealistas que queriam mudar a vida, Brandt luta literalmente para preservá-la.
A forma como trata a temporalidade nas suas imagens é fascinante. As suas fotografias parecem existir simultaneamente em várias temporalidades: documentam o presente, profetizam o futuro e lamentam o passado. É o que o historiador da arte Aby Warburg chamava de “sobrevivência”, a forma como certas imagens carregam em si a memória de formas mais antigas.
Tecnicamente, a sua transição do filme para a fotografia digital para “This Empty World” e as séries seguintes não alterou a potência da sua visão. Se as suas primeiras imagens a preto e branco evocavam a fotografia do século XIX, as suas obras recentes a cores criam a sua própria linguagem visual. As cores saturadas das suas cenas nocturnas são tão artificiais quanto a nossa atual relação com a natureza.
Para aqueles que ainda pensam que a fotografia é apenas um simples documento, o trabalho de Brandt é um tapa de luva branca. As suas imagens são construções complexas que exigem tanta planificação e reflexão quanto uma pintura histórica. A diferença é que a história que ele pinta está a desenrolar-se diante dos nossos olhos, e todos nós somos cúmplices disso.
A utilização de encenação por parte dele não diminui a veracidade do seu trabalho. Pelo contrário, como salientou Walter Benjamin, por vezes a ficção é o melhor meio para aceder à verdade. As cenas construídas de Brandt revelam uma verdade mais profunda do que qualquer documentário tradicional.
O trabalho de Nick Brandt é um rude lembrete da nossa própria mortalidade colectiva. As suas imagens obrigam-nos a encarar aquilo que geralmente preferimos ignorar: a nossa responsabilidade na destruição do mundo natural. Se não compreende a importância do seu trabalho, significa que faz parte do problema. A sua obra não está aqui para nos confortar ou entreter, está aqui para nos despertar da nossa torpor consumista antes que seja demasiado tarde.