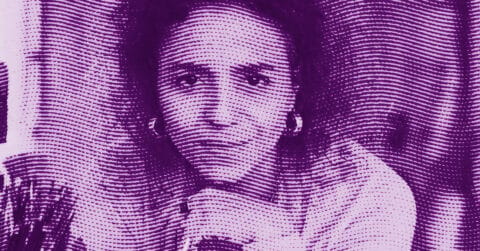Ouçam-me bem, bando de snobs. Estas orgias visuais ultrajantes, estas colossais sinfonias de píxeis assinadas por Andreas Gursky, não são simples fotografias. São autópsias glaciais da nossa civilização globalizada, cartografias metódicas do capitalismo tardio, radiografias impiedosas do nosso planeta doente.
Compreendam isto: Gursky não é apenas um homem com uma câmara fotográfica. É um antropólogo clínico que analisa a nossa época com precisão cirúrgica. O seu olhar omnisciente sobrevoa o nosso mundo como o de um deus frio e distante, sem julgamento aparente mas sem qualquer complacência.
Desde a sua torre de vidro em Düsseldorf, este antigo aluno dos Becher percorre o planeta para capturar as colmeias humanas, os templos do comércio, as catedrais das finanças. Fotografa os locais onde se escreve o nosso destino comum: bolsas, fábricas, portos, supermercados, prédios anónimos, com uma obsessão maníaca pela exaustividade. Cada fotografia é um mundo completo, hiper-real, uma totalidade que nos submerge.
Lembrem-se bem, por exemplo, de “Rhein II” (1999), essa imagem irrealmente perfeita do Reno alemão que quebrou todos os recordes ao tornar-se a fotografia mais cara alguma vez vendida. Que ironia! Uma imagem de austeridade absoluta, quase abstrata, representando uma paisagem domesticada, racionalizada, otimizada, exatamente como a nossa economia global. O rio reduzido a uma simples linha horizontal, enquadrado por faixas de relva desoladas, sob um céu cinzento uniforme. Gursky apagou digitalmente uma central elétrica que estragava a sua composição. Claro que o fez! Ele não é jornalista, é artista. A sua visão transcende o simples documental e aventura-se no território da verdade essencial.
O panóptico contemporâneo: Foucault e a vigilância visual
Se se procura compreender a obra de Gursky, é impossível ignorar a sua semelhança com o pensamento de Michel Foucault. As fotografias de Gursky funcionam como imensos panópticos visuais [1]. Este conceito foucaultiano, emprestado da arquitetura prisional, define um sistema onde tudo pode ser observado a partir de um ponto central sem que o observador seja ele próprio visível. Não é exatamente a posição que Gursky ocupa nas suas obras? O fotógrafo coloca-nos numa posição de vigilância total, onde podemos ver tudo, escrutinar tudo, a partir de uma posição de autoridade invisível.
“Paris, Montparnasse” (1993), essa fachada de edifício modernista onde cada apartamento, cada vida privada é exposta simultaneamente numa grade implacável. Ou “Tokyo Stock Exchange” (1990), onde os traders são reduzidos a partículas agitadas num sistema que os ultrapassa. Ou ainda “Amazon” (2016), que revela as entranhas labirínticas de um armazém gigante, símbolo do nosso consumo desmaterializado. Estas imagens não são a manifestação visual perfeita do que Foucault chamava os dispositivos de poder? Sistemas que controlam, normalizam e disciplinam os corpos e as mentes através de arquiteturas específicas.”
A abordagem fotográfica de Gursky, com o seu ponto de vista elevado e distante, a sua nitidez absoluta e a perspectiva frontal, cria o que Foucault teria chamado um “olhar omnividente”. Um olhar que naturaliza a vigilância na nossa sociedade, a ponto de a aceitarmos como normal. Como escrevia Foucault em “Vigiar e Punir”, o poder moderno funciona precisamente por esta visibilidade permanente que assegura o funcionamento automático do poder. Os sujeitos sabem que são potencialmente sempre observados, o que os leva a autodisciplinar-se.
Em “Pyongyang” (2007), Gursky leva esta lógica ao paroxismo ao documentar as grandiosas cerimónias coreanas do norte, onde milhares de indivíduos são reduzidos a pixels coloridos numa massa perfeitamente coordenada. O indivíduo desaparece completamente em favor de um organismo coletivo desindividualizado. Mas a ironia é que esta visão totalitária é apenas a exageração da nossa própria condição no capitalismo globalizado que Gursky documenta noutros contextos.
Como Foucault teria sublinhado, o poder já não se exerce exclusivamente de forma repressiva, mas de maneira produtiva, incentivando comportamentos, moldando desejos. Já não é o Big Brother que nos vigia, mas a própria estrutura do nosso sistema económico e social que nos constrange. Os espaços fotografados por Gursky, centros comerciais, hotéis de luxo, estádios, são dispositivos que produzem certos tipos de comportamentos e subjetividades.
A compressão espaço-temporal: David Harvey e o capitalismo acelerado
Se Foucault nos ajuda a compreender a dimensão política dos espaços fotografados por Gursky, a teoria da “compressão espaço-temporal” do geógrafo marxista David Harvey [2] permite-nos analisar a sua dimensão económica. Harvey mostrou como o capitalismo avançado reconfigura radicalmente a nossa experiência do espaço e do tempo, acelerando os fluxos de informação, mercadorias e capitais, até criar uma sensação de aniquilação do espaço pelo tempo.
As fotografias de Gursky são a visualização perfeita desta teoria. As suas imagens captam precisamente os locais onde ocorre esta compressão: bolsas globalizadas, portos automatizados, indústrias deslocalizadas, infraestruturas turísticas standardizadas. “Chicago Board of Trade” (1999) mostra a agitação frenética de uma sala de mercados onde as transações se realizam à velocidade da luz. “Salerno” (1990) revela um porto onde se empilham contentores multicoloridos, símbolos do comércio mundial acelerado. “99 Cent” (1999) apresenta a uniformização mundial do consumo de massas, com as suas prateleiras infinitamente reproduzidas.
Harvey explica que esta compressão provoca uma desestabilização das nossas identidades, um sentimento de desorientação e insegurança. As fotografias de Gursky, com a sua escala desmedida, a sua nitidez irreal e a sua perspectiva achatada, reproduzem precisamente esta sensação de vertigem. Elas não nos mostram apenas o capitalismo, fazem-nos sentir os seus efeitos psicológicos.
As imensas paisagens industriais de Gursky, como “Nha Trang” (2004) onde centenas de operárias vietnamitas fabricam móveis para a IKEA, ou “Greeley” (2002) mostrando uma criação industrial de gado nos Estados Unidos, documentam o que Harvey chama de “acumulação flexível”: a capacidade do capital de se mover instantaneamente para explorar os diferenciais de custos em escala global. Os corpos humanos aparecem aí como simples variáveis de ajuste num sistema globalizado.
Harvey analisa também como o capitalismo contemporâneo transforma o espaço em mercadoria, reduzindo os lugares ao seu valor de troca. As fotografias de Gursky capturam perfeitamente essa mercantilização: as paisagens naturais são frequentemente apresentadas como recursos exploráveis ou terrenos de lazer (“Engadin”, 2006), os espaços urbanos como investimentos (“Shanghai”, 2000), até a arte surge como um valor especulativo (“Turner Collection”, 1995).
A padronização dos espaços é outro sintoma dessa compressão espaço-temporal. Nos hotéis internacionais, aeroportos ou centros comerciais que Gursky fotografa, já não sabemos onde estamos, tamanha é a semelhança desses não-lugares de um continente para outro. O local é apagado em favor de uma uniformização global que o fotógrafo regista com precisão clínica.
O trabalho de Gursky expõe também o que Harvey chama de “capital espacialmente fixo”, os investimentos massivos em infraestruturas imóveis (estradas, fábricas, centros comerciais) que tentam fixar o capital apesar da sua tendência para a mobilidade. As suas fotografias de centrais solares (“Les Mées”, 2016), autoestradas ou complexos industriais revelam estas ancoragens espaciais do capital, levantando a questão da sua perdurabilidade num mundo em aceleração constante.
A beleza aterradora do nosso mundo
O génio de Gursky é que ele consegue tornar esta análise visualmente sedutora, quase viciante. As suas imagens atraem-nos pela extraordinária beleza formal, pela riqueza cromática, pela estrutura rigorosa, antes de nos revelarem o horror do que representam. Há algo de obsceno no prazer estético que sentimos perante estes quadros da nossa autodestruição coletiva.
Pegue em “Bahrain I” (2005), com o seu circuito automóvel que serpenteia no deserto como uma fita de veludo preto sobre areia dourada. Ou “F1 Pit Stop” (2007), essa coreografia perfeita de uma equipa de Fórmula 1 em plena ação. Ou ainda estas fotografias de raves onde os dançarinos formam padrões abstratos luminosos. Estas imagens são magníficas, documentando ao mesmo tempo atividades fundamentalmente absurdas num mundo à beira do colapso.
Esta tensão entre a beleza formal e a crítica implícita faz de Gursky um artista profundamente ambíguo. Ele não é nem um puro esteta, nem um militante explicitamente comprometido. Apresenta-nos o mundo como ele é, na sua terrível esplendor, e deixa-nos tirar as nossas próprias conclusões. É esta ambiguidade que torna o seu trabalho tão poderoso e perturbador.
Porque Gursky compreende uma verdade fundamental: para realmente ver o mundo contemporâneo, é preciso distanciar-se dele. As suas imagens não são instantâneos, mas construções meticulosas, frequentemente montadas digitalmente a partir de múltiplas tomadas. Não é manipulação, é clarificação. Ao libertar-se das limitações da visão humana, permite-nos ver o que de outra forma nunca poderíamos perceber.
É por isso que as fotografias de Gursky são tão grandes: elas devem nos engolir fisicamente para nos fazer compreender realidades que nos ultrapassam. Funcionam como experiências corporais, ambientes nos quais penetramos mais do que imagens que observamos à distância.
Quando estamos diante de um Gursky, sentimos como um inseto diante de um mundo que se tornou demasiado vasto, demasiado complexo, demasiado rápido para ser apreendido à escala humana. E talvez essa seja, em última análise, a mensagem essencial da sua obra: criámos um mundo que nos ultrapassa, que nos escapa, que nos reduz à insignificância. Um mundo do qual não somos mais que espectadores impotentes, em vez de atores.
Andreas Gursky não é apenas um fotógrafo, é um cartógrafo do antropoceno, um arquivista do capitalismo tardio, uma testemunha lúcida do nosso próprio desaparecimento enquanto sujeitos autónomos. As suas imagens são os frescos da nossa época, monumentos que permanecerão quando tudo tiver desaparecido.
E vocês, bando de snobs, que se extasiam diante das suas obras nas galerias e feiras de arte, saibam que não estão apenas a contemplar fotografias. Estão a olhar para si próprios, no espelho ampliado e implacável que Gursky estende à nossa civilização.
- Foucault, Michel, Vigiar e Punir: Nascimento da Prisão, Gallimard, Paris, 1975.
- Harvey, David, A Condição da Pós-modernidade: Uma Investigação sobre as Origens da Mudança Cultural, Blackwell, Oxford, 1989.