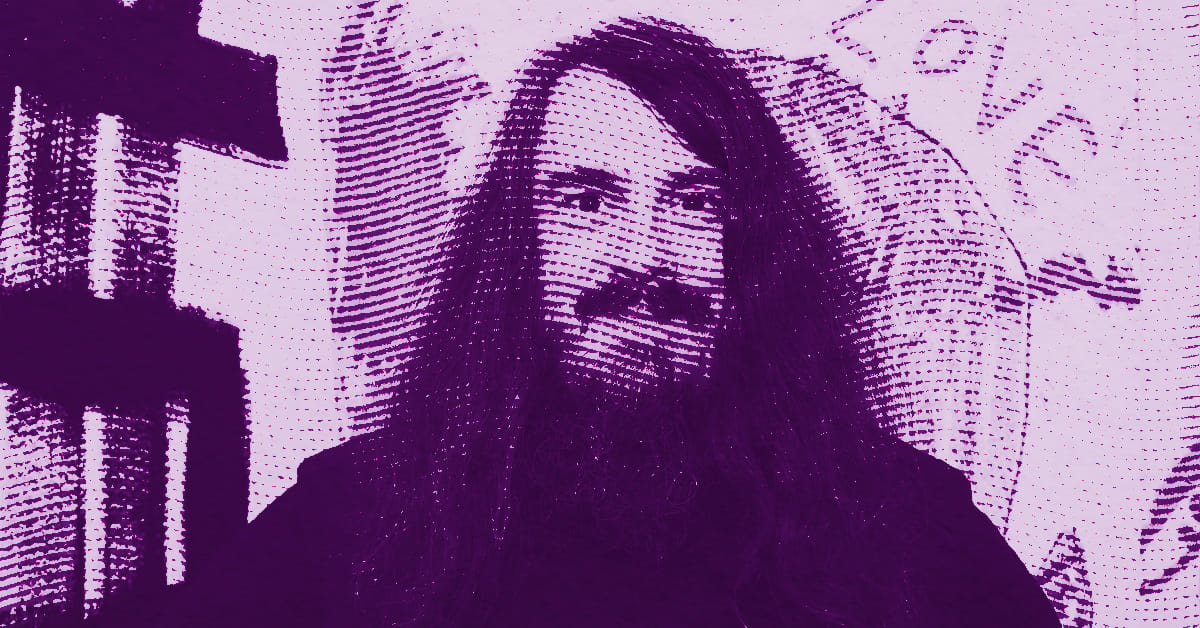Ouçam-me bem, bando de snobs. Aqui estamos perante um dos fenómenos artísticos mais desconcertantes e necessários da nossa época: Jonathan Meese, este alemão nascido em Tóquio em 1970, que há mais de duas décadas martiriza as nossas certezas estéticas com uma constância admirável. No seu atelier-bunker em Berlim, rodeado da sua mãe Brigitte que desempenha o papel de sargento-instrutora da ordem criativa, Meese fabrica uma arte que se recusa obstinadamente a ser domesticada pelas nossas habituais grades de leitura. O seu universo pictórico, povoado por figuras históricas decompostas e referências pop massacradas a golpes de pincel rageantes, constitui uma experiência visual que nos confronta brutalmente com os nossos próprios limites conceptuais.
A obra de Meese não se limita a ocupar o espaço museológico com a arrogância despreocupada de um ocupante de luxo. Ela impõe a sua presença por uma violência cromática e formal que tanto estupefaz quanto revolta, criando essa sensação particular de estar preso numa terrível noite de pesadelo tecnicolor cuja saída permanece obstinadamente invisível. As suas telas, verdadeiros campos de batalha onde se confrontam massas coloridas e figuras grimacentas, testemunham uma urgência expressiva que atravessa a história da arte alemã como uma lâmina aquecida a branco. Essa urgência tem raízes numa relação complexa com o poder, a autoridade, e sobretudo com essa “Ditadura da Arte” que proclama com o fervor de um evangelista alucinado.
O inconsciente em ação: Jonathan Meese e a máquina psicanalítica
A abordagem de Jonathan Meese revela interessantes correspondências com os mecanismos do inconsciente freudiano, particularmente na sua capacidade de transformar traumas coletivos em matéria pictórica. A arte contemporânea, ao flertar com a abstração ou propor obras conceptuais, convida cada um a projetar as suas próprias experiências, os seus medos e desejos na obra [1], e Meese leva essa lógica até aos seus limites mais extremos. As suas pinturas funcionam como ecrãs de projeção onde se cristalizam as nossas angústias mais profundas acerca da autoridade, da violência e da submissão.
O artista desenvolve um processo criativo que evoca irresistivelmente o trabalho de condensação e deslocamento em funcionamento na formação dos sonhos. As suas personagens históricas, Hitler, Napoleão e Wagner, sofrem transformações plásticas que os despem da sua gravidade histórica para os transformar em figuras grotescas, quase clownescas. Essa operação de desvalorização simbólica recorda os mecanismos de defesa psíquica pelos quais o indivíduo neutraliza aquilo que o ameaça. Meese não destrói essas figuras, ele torna-as ridículas, esvaziando-as do seu poder fantasioso pelo excesso da própria representação.
A presença obsessiva da sua mãe no seu processo criativo constitui um elemento fundamental para compreender a dimensão psicanalítica da sua obra. Brigitte Meese não é apenas a sua assistente, ela encarna uma autoridade materna que estrutura e canaliza as pulsões destrutivas do artista. Esta configuração familiar evoca as análises freudianas sobre a sublimação, processo através do qual as pulsões agressivas encontram uma saída socialmente aceitável na criação artística. O próprio Meese reconhece que a sua mãe “traz ordem” na sua vida e no seu atelier, desempenhando o papel do superego benevolente que permite ao artista dar forma às suas obsessões sem se entregar à autodestruição.
A relação complexa que Meese mantém com a ideologia também se esclarece sob o ângulo psicanalítico. A sua “Ditadura da Arte” funciona como uma formação de compromisso, permitindo expressar fantasias de todo-poder, ao mesmo tempo que as desarma pelo seu carácter abertamente delirante. O artista projeta na própria arte as suas pulsões dominadoras, criando uma ficção teórica que lhe permite evitar o envolvimento político direto. Esta estratégia de esquiva revela uma estrutura psíquica particularmente sofisticada, capaz de transformar a angústia em energia criadora, mantendo ao mesmo tempo uma distância crítica face às suas próprias obsessões.
A análise dos seus autorretratos revela também uma dimensão narcisista assumida que lembra as descrições freudianas do narcisismo primário. Meese representa-se constantemente nas suas obras, mas sempre com traços deformados, grotescos, que testemunham uma relação ambivalente com a sua própria imagem. Esta auto-representação compulsiva evoca o “Fort-Da” descrito por Freud, esse jogo de repetição através do qual a criança domina simbolicamente aquilo que lhe escapa. Meese desaparece e reaparece nas suas telas como se tentasse controlar a sua própria existência pela repetição da sua imagem.
A dimensão pulsional do seu trabalho manifesta-se também na sua técnica pictórica brutal, onde a tinta é diretamente espremida do tubo para a tela, evitando qualquer mediação pelo pincel tradicional. Esta imediaticidade do gesto evoca a expressão direta da libido, sem as sublimações habituais da prática artística clássica. Meese pinta como se evacuasse uma tensão, na urgência de um alívio que não pode ser adiado.
A obsessão recorrente por figuras masculinas de poder, ditadores, imperadores e heróis wagnerianos, revela uma fascinação pela autoridade paterna que o artista apropria e desconstrói simultaneamente. Estas personagens funcionam como substitutos do pai simbólico, que ele pode ao mesmo tempo venerar e destruir sem risco de verdadeiras consequências. A psicanálise ensina-nos que a arte pode servir de espaço transitório onde se elaboram as nossas relações mais conflituosas com a autoridade, e a obra de Meese constitui um laboratório privilegiado para observar estes mecanismos no seu estado bruto.
Wagner e a tentação da obra de arte total
A relação de Jonathan Meese com Richard Wagner revela outra dimensão essencial do seu projeto artístico: a aspiração ao Gesamtkunstwerk, essa obra de arte total que obsesiona a cultura alemã desde o século XIX. Esta ambição wagneriana impregna profundamente a prática de Meese, que recusa limitar-se a um meio único e desenvolve simultaneamente pintura, escultura, performance, escrita teórica e encenação lírica. A sua abordagem multidisciplinar testemunha a vontade de saturar o espaço artístico, criar um ambiente total onde o espectador se vê imerso num universo coerente e opressivo.
A influência wagneriana transparece particularmente nas dimensões épicas das suas instalações, que transformam o espaço de exposição num teatro das suas obsessões pessoais. Tal como Wagner construía as suas óperas segundo uma dramaturgia totalizante onde música, texto, cenografia e interpretação concorriam para um efeito único, Meese concebe as suas exposições como espetáculos globais onde cada elemento, pinturas, esculturas, vídeos e performances, participa numa encenação de conjunto. Esta abordagem orquestral da arte contemporânea revela uma ambição demiúrgica que não deixa de lembrar os sonhos de regeneração cultural caros ao compositor.
A produção operática de Meese, nomeadamente a sua versão de Parsifal criada nos Wiener Festwochen em 2017, constitui a culminação lógica desta abordagem totalizante. Ao atacar a última ópera de Wagner, Meese inscreve-se numa linhagem de artistas alemães assombrados pela herança do mestre de Bayreuth. Mas, onde os encenadores tradicionais geralmente tentam domesticar a dimensão mitológica wagneriana por leituras psicológicas ou sociológicas, Meese empurra ao contrário essa mitologia para os seus extremos mais delirantes. O seu Parsifal futurista, povoado de personagens de ficção científica e situado numa base lunar, radicaliza a estética wagneriana em vez de a neutralizar.
Esta estratégia de amplificação revela uma compreensão subtil das questões estéticas e ideológicas da ópera wagneriana. Em vez de tentar purificar Wagner dos seus aspetos mais problemáticos, Meese escolhe exacerbar esses aspetos até ao absurdo, criando uma forma de vacinação artística contra as tentações totalitárias. O seu Parsifal torna-se uma paródia das aspirações à redenção coletiva, transformando o drama sagrado numa ópera do espaço desvairado onde a busca do Graal se converte numa aventura de série B.
A abordagem cénica de Meese revela também um domínio consumado dos códigos visuais wagnerianos que ele desvia para fins críticos. Os fatos, os cenários, as iluminações emprestam ao vocabulário estético de Bayreuth enquanto o parasitam por elementos pop e de ficção científica que revelam a sua artificialidade. Esta contaminação estilística cria um efeito de distanciamento que permite ao espetador perceber os mecanismos de sedução em obra na arte de Wagner sem no entanto sucumbir-lhes.
A dimensão temporal constitui outro ponto de convergência entre Wagner e Meese. Como as óperas de Wagner desdobram os seus efeitos em durações invulgares que saturam a perceção do espetador, as instalações de Meese criam uma temporalidade específica, dilatada, onde a acumulação de elementos visuais acaba por produzir uma forma de exaustão sensorial. Esta estratégia de imersão prolongada visa ultrapassar as resistências racionais do público para atingir zonas de receção mais primitivas, mais diretamente emocionais.
A ambição wagneriana de regeneração cultural encontra em Meese uma tradução contemporânea na sua teoria da “Ditadura da Arte”. Como Wagner sonhava com uma arte capaz de refundar a sociedade alemã, Meese profetiza o advento de um reinado estético que ultrapassaria as cisões políticas tradicionais. Esta utopia artística, por delirante que seja, testemunha a permanência das aspirações totalizantes na cultura alemã, aspirações que Meese reativa enquanto as esvazia do seu perigo pelo excesso da sua formulação.
A herança de Wagner também transparece na conceção que Meese tem do papel do artista. Assim como Wagner se apresentava como um reformador cultural total, teórico tanto quanto criador, Meese desenvolve um corpus teórico prolífico onde expõe a sua visão do mundo e da arte. Os seus manifestos, as suas entrevistas, as suas performances teóricas participam desta ambição pedagógica que faz do artista um guia espiritual do seu tempo. Esta postura profética, herdada do romantismo alemão e amplificada por Wagner, encontra em Meese uma expressão contemporânea que revela ao mesmo tempo a sua necessidade e os seus limites.
A estética da contradição
O que surpreende de imediato no universo de Jonathan Meese é a sua capacidade de manter em tensão elementos aparentemente incompatíveis. Por um lado, este homem com mais de cinquenta anos que ainda vive com a mãe proclama a necessidade de uma “Ditadura da Arte” com a veemência de um tribuno revolucionário. Por outro lado, ele desenvolve uma prática pictórica de uma ternura inesperada, onde as cores vibrantes e as formas biomórficas evocam tanto o universo da infância como os pesadelos da idade adulta. Esta esquizofrenia assumida constitui talvez a pedra angular do seu sistema estético: recusar todo o conforto interpretativo, manter o espectador num estado de incerteza produtiva.
As suas pinturas recentes, nomeadamente as dedicadas a Scarlett Johansson ou às figuras maternas, revelam uma sensibilidade cromática que não tem nada a invejar aos grandes coloristas da história da arte. Mas este domínio técnico está constantemente sabotado por elementos deliberadamente grosseiros: inscrições a marcador, colagens arriscadas, empastamentos brutais que transformam cada tela num campo de batalha estética. Meese parece incapaz de criar o belo sem o sujar imediatamente, como se temesse os sortilégios da sedução artística.
Esta estética do auto-sabotagem encontra a sua expressão mais radical nas suas performances, onde o artista alterna os papéis de bufão e ditador, de profeta e charlatão. As suas aparições públicas, sempre espetaculares, criam um desconforto produtivo que questiona as nossas expectativas sobre a figura do artista contemporâneo. Ao recusar a postura do intelectual distinto assim como a do rebelde romântico, Meese inventa uma persona artística inédita, ao mesmo tempo grotesca e carismática, que desestabiliza os nossos hábitos de receção.
A sua relação com a história alemã ilustra perfeitamente esta lógica contraditória. Em vez de evitar símbolos comprometedores ou denunciá-los frontalmente, escolhe incorporá-los no seu universo estético esvaziando-os do seu peso dramático pela repetição e deformação. Esta estratégia de esgotamento simbólico revela uma inteligência tática notável: ao transformar os ícones do mal em marionetes coloridas, Meese retira-lhes o poder de fascinação preservando, contudo, a sua função crítica.
O acumular de objetos heteróclitos nas suas instalações participa desta mesma lógica de saturação semântica. Brinquedos, artefatos militares, referências pop, fragmentos de obras clássicas coexistem num caos organizado que desafia toda a tentativa de hierarquização cultural. Esta equalização pelo excesso produz um efeito vertiginoso que nos confronta com o arbitrário das nossas escalas de valor estético. Em Meese, uma máscara de Darth Vader vale um busto de Napoleão, e esta equivalência assumida constitui talvez a sua contribuição mais subversiva para o debate artístico contemporâneo.
Para lá do espetáculo: A questão da necessidade
Por trás do circo mediático e das provocações calculadas, a obra de Jonathan Meese coloca uma questão fundamental: a da necessidade da arte nas nossas sociedades desencantadas. A sua “Ditadura da Arte”, apesar dos seus aspetos delirantes, formula uma exigência legítima: que a arte recupere uma função social que ultrapasse o mero divertimento cultural ou o investimento especulativo. Ao proclamar que só a arte pode salvar a humanidade das ideologias mortíferas, Meese reativa uma tradição utópica que atravessa a história da modernidade artística, da vanguarda russa ao surrealismo francês.
Esta dimensão profética não deve ocultar o rigor da sua abordagem formal. Meese domina perfeitamente os códigos da arte contemporânea internacional, mas escolhe desviá-los ao serviço de um projeto pessoal que escapa às categorias críticas habituais. As suas colaborações com Albert Oehlen, Daniel Richter ou Tal R testemunham uma capacidade de diálogo com os seus pares que contradiz a imagem de um artista isolado nas suas obsessões. Esta dimensão coletiva do seu trabalho revela uma estratégia de resistência face ao individualismo exacerbado do mercado da arte contemporânea.
A evolução recente da sua prática, marcada por uma recusa em deslocar-se para as suas exposições e por um recentramento no seu atelier berlinense, sugere uma maturação que merece atenção. Ao escolher a sedentariedade contra o nomadismo artístico, Meese afirma a primazia do processo criativo sobre a sua mediação. Esta sabedoria inesperada, em um artista reputado pelos seus excessos, testemunha uma lucidez crescente sobre as armadilhas do sistema artístico atual.
As suas obras recentes, menos carregadas simbolicamente que as suas produções dos anos 2000, revelam um apaziguamento relativo que não exclui a intensidade expressiva. As séries dedicadas a máscaras de cerâmica ou a paisagens mentais mostram um artista capaz de evoluir sem renegar as suas obsessões fundamentais. Esta capacidade de renovação, rara no meio da arte contemporânea, sugere que Meese poderia muito bem ultrapassar o estatuto de enfant terrible que lhe cola à pele para alcançar um reconhecimento mais duradouro.
Porque é exatamente disso que se trata finalmente: Jonathan Meese confronta-nos com os nossos próprios limites, com os nossos medos, com os nossos desejos reprimidos com uma brutalidade salutar que faz de cada confronto com a sua obra uma experiência transformadora. Num panorama artístico frequentemente domado pelos imperativos comerciais e pelas conveniências institucionais, ele mantém viva esta função perturbadora da arte que nos obriga a questionar as nossas certezas. E por isso, paradoxalmente, podemos-lhe ser gratos. Mesmo que, sobretudo se, a sua arte nos deixe profundamente desconfortáveis ao confrontar-nos com os nossos próprios limites.
- “O sujeito, a psicanálise e a arte contemporânea”, Cairn.info, 2012