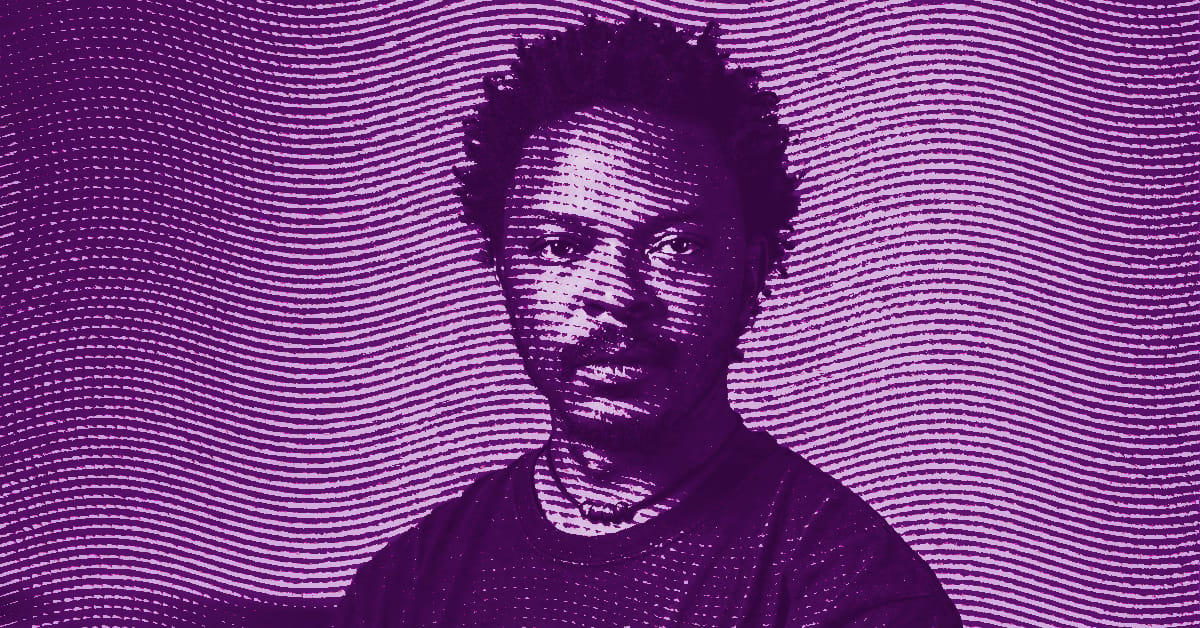Ouçam-me bem, bando de snobs : enquanto vocês se extasiam diante das últimas instalações de arte contemporânea, um homem nascido em Lubumbashi realiza há duas décadas um trabalho de inteligência feroz que deveria calar-vos. Sammy Baloji não é daqueles artistas que acariciam o olho no sentido da preferência. Ele está entre aqueles que perturbam, que exumam, que obrigam a olhar o que se preferiria esquecer. Fotógrafo de formação, licenciado em letras e ciências humanas antes de se especializar em vídeo e fotografia na École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, este homem fez do arquivo colonial o seu campo de batalha e da memória do Katanga a sua obsessão salutar.
O seu trabalho não se limita a estetizar a ruína ou a documentar a desolação. Ele realiza um gesto muito mais violento : sobrepõe os tempos, confronta as imagens, põe frente a frente o presente congolês e o seu passado colonial, como se forçasse dois adversários a olhar-se nos olhos fixamente. A sua série Mémoire (2004-2006) inaugura este método radical : fotografias de arquivos coloniais vêm assombrar os seus próprios clichés dos locais industriais abandonados do Katanga. O resultado é de uma brutalidade poética que deixa boquiaberto. Mas não nos enganemos… ou melhor, sim, enganemo-nos juntos quanto à natureza do seu gesto, pois não se trata nem de nostalgia nem de simples denúncia. Trata-se de uma arqueologia visual que expõe as camadas de violência inscritas na própria paisagem.
A arquitetura como instrumento de dominação
Comecemos pelo que salta aos olhos mas que ninguém quer ver : a arquitetura. Em Baloji, a arquitetura colonial nunca é um simples cenário pitoresco ou uma relíquia para contemplar com aquela distância condescendente que se reserva às ruínas exóticas. Ela é a ferramenta principal da dominação, a linguagem de pedra e betão pela qual se escreveu o projeto colonial belga. Quando Baloji filma os edifícios degradados de Yangambi em Aequare. The Future that Never Was (2023), ele não se limita a mostrar paredes que se desfazem. Ele mostra como essas estruturas continuam a condicionar a vida dos congoleses, como os trabalhadores contemporâneos ainda ocupam os mesmos espaços que os seus predecessores da época colonial, cumprindo os mesmos gestos nos mesmos lugares, prisioneiros de uma geometria espacial herdada da violência.
O urbanismo colonial belga no Congo, e particularmente em Lubumbashi onde Baloji cresceu, seguia uma lógica de apartheid espacial que os historiadores da arquitetura documentaram bem [1]. A cidade foi criada ex nihilo em 1910, organizada em torno do princípio da segregação racial com o seu famoso “cordão sanitário” de 500 metros que separava os bairros europeus das cidades africanas. Esta distância, supostamente justificada por considerações sanitárias relacionadas com a malária, desenhava na realidade um mapa da hierarquia colonial inscrito no próprio solo. Baloji declarou ter vivido a sua “infância numa cidade inteiramente organizada à volta da realidade industrial e da exploração dos recursos mineiros”. Esta cidade é Lubumbashi, anteriormente Élisabethville, catedral do cobre e monumento à glória da Union Minière du Haut-Katanga.
Em Still Kongo I-V (2024), Baloji desenvolve uma estratégia de uma subtilidade notável. Ele enquadra fotografias aéreas de arquivo que mostram a floresta congolesa em 1958-1959 em molduras de madeira de afzelia ornadas com motivos inspirados no Art nouveau belga. Este gesto aparentemente decorativo encerra uma violência conceptual considerável. O Art nouveau, este estilo que fez a fama de Bruxelas, inicialmente designava-se por “Style Congo” em referência aos materiais e motivos congoleses que o inspiraram. Aqui está, portanto, o circuito completo da extração: os recursos saem do Congo, enriquecem a Europa, geram aí movimentos estéticos celebrados como o auge do refinamento ocidental, antes de regressar sob a forma de molduras que encerra as próprias imagens da destruição que causaram.
Os edifícios coloniais que Baloji fotografa e filma não são simples testemunhos passivos da história. São agentes ativos da perpetuação das estruturas coloniais. A catedral de Lubumbashi em estilo neorromânico, construída em 1921, bloqueava deliberadamente a vista para o parque e a residência do governador a partir do centro da cidade, marcando fisicamente o poder colonial no espaço urbano. As cidades operárias construídas pela Union Minière du Haut-Katanga formavam entidades autónomas com alojamentos, escolas e dispensários, micro-universos totalitários nos quais a companhia controlava cada aspecto da vida dos trabalhadores. Esta arquitetura paternalista, que pretendia ser benéfica, não era senão uma forma refinada de controlo social.
Baloji compreende que a arquitetura colonial nunca é neutra. Ela encarna uma filosofia de dominação que se perpetua muito para lá da independência formal. Os planos urbanos, os traçados das ruas, a disposição dos edifícios públicos, tudo isto continua a estruturar a existência quotidiana dos congoleses segundo lógicas herdadas da opressão. Quando ele justapõe nas suas instalações plantas congolesas e cartuchos de munição em cobre transformados em vasos de flores por lares belgas, revela como mesmo a domesticidade europeia participa da cadeia extrativista. O cobre arrancado ao Katanga, forjado em obuses durante a Primeira Guerra Mundial, depois reciclado em objetos decorativos em casas burguesas belgas: aqui está o ciclo de vida obsceno de um material que traz em si a memória de múltiplas violências.
A filosofia da invenção e da destruição
Se a arquitetura em Baloji é a linguagem visível da dominação, é para a filosofia que se deve voltar para compreender os mecanismos epistemológicos que tornaram essa dominação possível. O artista não cita a filosofia por acaso nas suas obras. Em Tales of the Copper Cross Garden, Episode I (2017), ele entrelaça imagens de uma fundição de cobre com excertos dos escritos autobiográficos de Valentin-Yves Mudimbe, filósofo e poeta congolês cuja obra monumental L’Invention de l’Afrique (1988) revolucionou a compreensão dos saberes sobre África [2].
Mudimbe mostrou que a África, tal como existe no imaginário ocidental, é uma construção, uma invenção produzida por um aparelho discursivo colonial que incluía a antropologia, a cartografia, a missão civilizadora e as ciências naturais. O que Mudimbe chama de “biblioteca colonial”, esse conjunto de textos, classificações, cartografias que definiram a África do exterior, encontra o seu equivalente visual no trabalho de Baloji. Os arquivos fotográficos que o artista exuma e reativa são precisamente os instrumentos dessa “invenção”: eles serviram para catalogar, classificar, essencializar os congoleses, reduzindo-os a espécimes etnográficos.
O gesto artístico de Baloji está profundamente no espírito de Mudimbe na sua abordagem. Ele não procura opor uma “África verdadeira” a uma África inventada, mas revelar os próprios mecanismos dessa invenção, mostrar como as ferramentas do conhecimento colonial, a fotografia, a cartografia geológica e os planos urbanísticos, participaram na construção de uma África disponível para a exploração. Os mapas geológicos coloridos que ele apresenta em Extractive Landscapes (2019) não são simples documentos técnicos. São ferramentas de poder que fragmentam o território congolês em zonas de extração, que o reduzem aos seus recursos minerais, apagando qualquer profundidade histórica e cultural para reter apenas o valor comercial do subsolo.
Mudimbe também insistiu no papel da Igreja Católica no empreendimento colonial. Os missionários não vinham apenas “salvar as almas”; participavam ativamente no projeto de remodelação das subjetividades africanas. Baloji capta essa dimensão com uma agudeza notável. Em Tales of the Copper Cross Garden, os cantos corais que pontuam as imagens da fundição não são um simples contraponto musical. Evocam os pequenos cantores congoleses segurando cruzes de cobre diante do peito, símbolo de uma dupla extração: a do metal e a da alma. Como Baloji formulou com uma clareza cortante: “Nada menos do que as cruzes de cobre seguradas diante do coração dos coroinhas sugere como os missionários tentaram roubar as suas almas enquanto exploravam os recursos locais de cobre para benefício dos europeus”.
O filósofo congolês crescera num seminário colonial, experiência que alimenta toda a sua obra. Baloji, por sua vez, cresceu numa cidade-fábrica inteiramente dedicada à extração minerária. Ambos compreendem visceralmente como o colonialismo não se limitava a explorar os recursos: procurava remodelar as consciências, impor novas categorias de pensamento, destruir os sistemas de saber locais para os substituir pelas taxonomias ocidentais. As cruzes de cobre do Katanga que Baloji expõe, esses objetos que serviam como moeda entre o século XIII e o século XX, testemunham um sistema económico e simbólico sofisticado anterior à colonização. A chegada da União Mineira do Alto Katanga tornou essas cruzes obsoletas, reduzindo-as a simples curiosidades etnográficas.
Esta destruição dos sistemas de valores locais em favor das lógicas comerciais ocidentais está no centro do trabalho de Baloji. Quando apresenta tecidos preciosos do Reino Kongo transformados em “negativos” de bronze e cobre na sua série Copper Negative of Luxury Cloth Kongo Peoples (2017), realiza um gesto de apropriação simbólica. Estes têxteis em fibras de palmeira rafiã, de uma finura comparável ao veludo, circulavam nos gabinetes de curiosidades europeus antes de serem relegados ao estatuto de artefatos etnográficos. Baloji funde-os literalmente no metal congolês, como que para inverter o processo de descontextualização e reificação que sofreram.
A dimensão filosófica do trabalho de Baloji reside também na sua recusa de qualquer nostalgia. Ele não procura restaurar um passado pré-colonial mítico, o que seria cair na armadilha do essencialismo denunciado por Mudimbe. Ao contrário, trabalha nos interstícios, nas zonas cinzentas onde passado e presente, arquivos e criação contemporânea se misturam. A sua instalação Gnosis (2022), apresentada no Palazzo Pitti de Florença, incluía um globo gigante em fibra de vidro preta rodeado por reproduções de mapas históricos de África. O próprio título, “Gnosis”, remete diretamente para o subtítulo da obra de Mudimbe: Gnose, filosofia e ordem do conhecimento. Baloji sabe que a questão não é produzir uma representação “verdadeira” da África que viesse corrigir as falsas representações coloniais. A questão é entender como se produzem os regimes de verdade, como se estabelecem as ordens do conhecimento que tornam certos saberes legítimos e outros inaudíveis.
Rumo a uma ética da memória
O que é que Sammy Baloji faz, afinal? Ele pratica o que se poderia chamar de uma arqueologia crítica do presente. Cada uma das suas obras é uma escavação que traz à luz as camadas de violência, extração e destruição que constituem o solo mesmo da modernidade congolesa. Mas, ao contrário do arqueólogo clássico que exuma para melhor musealizar, Baloji exuma para reativar, para tornar essas histórias enterradas ativas no presente. As suas imagens não são documentos inertes: são dispositivos que forçam o olhar, que obrigam a reconhecer a continuidade entre o passado colonial e as formas contemporâneas de exploração neocolonial.
O cobalto e o lítio que alimentam hoje os nossos telemóveis e os nossos carros elétricos saem das mesmas minas do Katanga que ontem produziam o cobre para a eletrificação da Europa e o urânio para as bombas atómicas de Hiroshima e Nagasaki. Esta continuidade obscena, Baloji torna-a visível em Shinkolobwe’s Abstraction (2022), série de serigrafias que sobrepõem amostras de urânio congolês e imagens de explosões nucleares. A mensagem é de uma clareza brutal: o átomo que arrasou Hiroshima vinha do Katanga. A energia que alimenta a “transição ecológica” ocidental baseia-se na mesma lógica extrativista que destruiu o Congo durante mais de um século.
Baloji não oferece nenhum conforto, nenhuma solução fácil. O seu trabalho é desconfortável porque recusa as narrativas redentoras. Ele não celebra a “resiliência” africana, esse conceito tudo-em-um que os ocidentais tanto gostam para evitar falar da responsabilidade histórica. Pelo contrário, ele mostra como as estruturas coloniais se perpetuam, como a arquitetura continua a constranger, como as lógicas extrativistas se renovam sob novos disfarces. Os trabalhadores de Yangambi ainda ocupam os mesmos edifícios, realizam as mesmas tarefas de classificação botânica segundo os mesmos protocolos da época colonial. O Congo dito independente continua preso nas redes de uma dependência estrutural que já não diz o seu nome.
No entanto, seria errado ver neste trabalho um simples exercício de denúncia. O que Baloji constrói, obra após obra, é uma ética da memória que recusa tanto o esquecimento como a fossilização memorial. Os seus arquivos não estão lá para nutrir ressentimentos ou alimentar uma vitimização complacente. Eles estão lá para iluminar o presente, para permitir uma compreensão sem concessões dos mecanismos que continuam a operar. Como ele próprio afirmou: “O que me interessa como artista é como criamos um discurso alternativo, como atacamos esses modos de pensar estabelecidos na época colonial e identificamos os seus limites, as suas fraquezas.”
Aqui talvez esteja o gesto mais radical de Baloji: não se contentar em denunciar os discursos coloniais, mas procurar as suas falhas, os seus pontos de fragilidade, os interstícios por onde outros relatos, outras ordens de conhecimento podem emergir. O seu trabalho como cofundador da Bienal de Lubumbashi desde 2008 participa desta mesma lógica. Não se trata simplesmente de expor artistas congoleses, mas de criar as infraestruturas intelectuais e institucionais que permitirão a esses artistas produzir e divulgar as suas obras segundo os seus próprios termos, sem passar pelos filtros e validações do mercado de arte ocidental.
A radicalidade de Sammy Baloji reside nesta paciência metódica, esta rigorosidade de investigador posta ao serviço de uma visão artística que nunca transige com a complexidade. Ele não simplifica, não espetaculariza, não transforma o horror colonial num produto de consumo estético. As suas obras exigem tempo, atenção, um esforço intelectual que muitos espectadores não estão dispostos a fornecer. Paciência para eles. Baloji não trabalha para o conforto do público ocidental. Ele trabalha para exumar uma memória, para dar corpo a uma história que se gostaria de ver permanecer enterrada sob os escombros dos edifícios coloniais. E neste trabalho de exumação, ele cumpre talvez uma das tarefas mais necessárias da arte contemporânea: obrigar-nos a olhar de frente o que a nossa modernidade deve à barbárie e o que a nossa prosperidade continua a custar a outros.
- Lagae, Johan, “Reescrevendo o Passado Colonial do Congo: História, Memória e Património Construído Colonial em Lubumbashi, República Democrática do Congo”, em Repenser les limites : l’architecture à travers l’espace, le temps et les disciplines, Publications de l’Institut national d’histoire de l’art, 2017
- Mudimbe, Valentin-Yves, A Invenção da África: Gnose, filosofia e ordem do conhecimento, Présence africaine, 2021 (edição original em inglês: Indiana University Press, 1988)