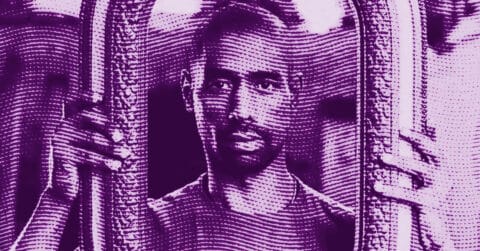Ouçam-me bem, bando de snobs! Sarah Morris (nascida em 1967) não é simplesmente uma artista que faz grades coloridas bonitas para decorar os vossos salões assépticos. Ela é uma das raras que compreendeu que a abstração geométrica não morreu com Mondrian, mas que ainda pode falar-nos do nosso mundo hiper-capitalista, sobre-industrializado e paradoxalmente desligado.
Olhem para as suas pinturas monumentais, essas composições matemáticas que parecem saídas de um manual de geometria não euclidiana. Estas obras não estão aí para ficarem bonitas nos vossos interiores design. Elas são o reflexo implacável da nossa sociedade algorítmica, onde cada decisão é ditada por matrizes de dados. Morris usa a pintura gliceroftálica industrial, aquela que se encontra em qualquer loja de bricolage. Uma escolha radical que ecoa o pensamento de Walter Benjamin sobre a reprodutibilidade técnica da arte. Ela transforma esse material banal em superfícies brilhantes que agem como espelhos deformantes da nossa realidade urbana.
As suas últimas séries “Sound Graph” e “Spiderweb” são particularmente impactantes. Estas telas parecem capturar a essência do que Gilles Deleuze chamava “sociedades de controlo”. As linhas entrelaçam-se como fluxos de informação, criando nós de tensão que evocam os pontos nevrálgicos das nossas metrópoles vigiadas. A grelha já não é apenas um dispositivo formal herdado do modernismo, torna-se uma metáfora gélida das nossas vidas quadrilhadas pelos algoritmos.
Mas Morris não se limita a pintar. Ela também filma as nossas cidades com uma precisão cirúrgica que faria Dziga Vertov parecer um amador. Os seus filmes como “Rio”, “Beijing” ou “Abu Dhabi” não são simples documentários turísticos. São dissecações implacáveis do que Guy Debord chamava a “sociedade do espetáculo”. Ela capta estas metrópoles na sua desmesura arquitetónica, a sua hubris capitalista, o seu desejo patológico de controlo.
Em “Finite and Infinite Games” (2017), ela aprofunda ainda mais a sua reflexão inspirando-se nas teorias de James P. Carse. Mostra-nos como a arquitetura contemporânea, encarnada pela Filarmónica do Elba em Hamburgo, se torna o palco de uma luta entre duas conceções do mundo: o jogo finito (ganhar a todo custo) e o jogo infinito (jogar para continuar a jogar).
O seu trabalho é um bofetão aos defensores de uma arte decorativa e inofensiva. Ela usa os códigos da abstração geométrica não para criar obras decorativas, mas para dissecar os mecanismos de poder que regem as nossas sociedades. As suas pinturas e os seus filmes funcionam como radiografias da nossa época, revelando as estruturas invisíveis que nos constrangem.
Sarah Morris transforma dados frios, sejam plantas arquitetónicas, estatísticas económicas ou gravações sonoras, em experiências estéticas viscerais. Ela consegue este raro feito: tornar visível o invisível sem cair no didatismo. As suas obras confrontam-nos com a realidade das nossas cidades-máquina, essas megalópoles que nos prometem o paraíso enquanto nos encerram em grades douradas.
Para todos aqueles que pensam que a arte contemporânea deve limitar-se a ser decorativa, Morris opõe uma prática radicalmente política. Ela retoma as armas formais do modernismo, a grelha, a cor pura, a geometria, para as voltar contra o sistema que as esvaziou da sua substância revolucionária. As suas pinturas são vírus visuais que se infiltram nos espaços assépticos do capitalismo tardio para revelar as suas contradições.
A forma como ela associa pintura e cinema é particularmente pertinente. Estes dois meios, aparentemente antagónicos, alimentam-se mutuamente numa dialética fascinante. Os seus filmes documentam a realidade brutal das nossas metrópoles, enquanto as suas pinturas abstraem as estruturas subjacentes. É precisamente o que Fredric Jameson chamava a “cartografia cognitiva” do capitalismo tardio.
A sua instalação “Ataraxia” (2019) leva esta lógica ao seu paroxismo. Ao cobrir as paredes de uma sala inteira com padrões geométricos, ela cria um espaço mental que evoca tanto as salas de controlo das multinacionais como as celas acarpetadas dos asilos. A ataraxia, esse estado de calma imperturbável buscado pelos filósofos estóicos, torna-se aqui o sintoma de uma sociedade anestesiada pelos seus próprios dispositivos de controlo.
Enquanto a arquitetura se tornou hoje o braço armado do capitalismo financeiro, onde os arranha-céus são menos edifícios do que gráficos tridimensionais da especulação imobiliária, Morris coloca questões essenciais: quem controla o espaço? Como a geometria do poder molda as nossas vidas? As suas obras são máquinas de visão que nos permitem ver o que não queríamos ver.
Não se enganem: por detrás da elegância formal das suas composições esconde-se uma crítica acerba à nossa modernidade tardia. Morris não é uma decoradora para lobbies de multinacionais, é uma anatomista do capitalismo contemporâneo. Ela disseca as estruturas de poder com a precisão de um cirurgião e a raiva contida de uma ativista.