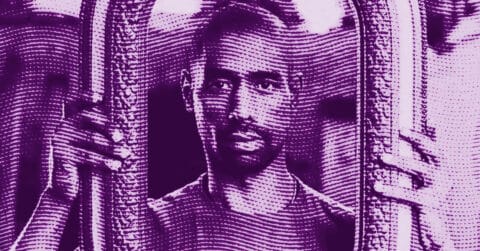Ouçam-me bem, bando de snobs, se pensam que a paisagem contemporânea não tem mais nada a dizer-nos, é porque ainda não encontraram a obra surpreendente de Shara Hughes. Esta artista americana, nascida em 1981 em Atlanta, conseguiu o feito de reinventar um género que muitos consideravam esgotado, criando mundos paralelos que desafiam a nossa compreensão convencional da natureza e da representação.
Enquanto a nossa época está saturada de repetições e conceitos desgastados, Hughes destaca-se pela sua capacidade de criar obras que transcendem as categorias tradicionais. As suas paisagens não são simples representações de lugares existentes, mas construções mentais complexas que nos convidam a explorar os territórios inexplorados da nossa psique. Através do seu olhar único, cada tela torna-se uma janela aberta para um mundo onde as leis da física e da percepção são reescritas segundo uma lógica onírica.
Tomemos por exemplo a sua obra magistral “The Delicate Gloom” (2018), que ilustra perfeitamente a sua capacidade de transformar um simples motivo floral numa meditação profunda sobre a natureza da consciência. Nesta tela vertiginosa, as cores parecem pulsar com vida própria, criando ritmos visuais que lembram as batidas de um coração cósmico. Os violetas profundos misturam-se com os verdes ácidos numa dança cromática que evoca os estados limite da consciência, esses momentos em que a realidade objetiva se dissolve no fluxo da nossa experiência subjetiva.
Esta abordagem singular da paisagem encontra um eco fascinante nas teorias da percepção desenvolvidas por Maurice Merleau-Ponty na sua “Fenomenologia da Percepção”. Tal como o filósofo francês sugeria que a nossa experiência do mundo é fundamentalmente incorporada e subjetiva, Hughes cria paisagens que não procuram representar uma realidade objetiva, mas sim captar a essência da nossa experiência perceptiva. As suas telas não nos mostram como o mundo aparece a um observador desligado, mas como é vivido por dentro, na intimidade da nossa consciência.
A forma como Hughes aborda a cor é particularmente reveladora desta abordagem fenomenológica. Em “What Nerve” (2024), ela usa pontos azuis vivos que decoram os ramos de uma árvore como tantos olhos que nos observam. Estas manchas de cor não são simplesmente decorativas, elas transformam a árvore numa presença consciente que nos olha tanto quanto nós a olhamos. Esta reciprocidade do olhar, central no pensamento de Merleau-Ponty, torna-se aqui um elemento estruturante da composição.
A artista trabalha sem esboços preparatórios, deixando que a pintura a guie num processo que recorda a descrição que Merleau-Ponty faz da perceção como um diálogo constante entre o sujeito que percebe e o mundo percebido. Cada pincelada, cada decisão cromática emerge de uma interação direta com a matéria pictórica, criando formas que parecem nascer espontaneamente na tela, como os pensamentos que emergem na nossa consciência.
Em “Obstacles” (2019), Hughes leva esta exploração ainda mais longe. As sombras das árvores tornam-se presenças quase tangíveis que dialogam com a vegetação circundante, criando um jogo complexo entre o visível e o invisível, entre o que é diretamente percebido e o que é sugerido. Esta obra ilustra perfeitamente aquilo a que Merleau-Ponty chamava “a carne do mundo”, essa textura comum que une o que percebe e o percebido numa mesma trama sensível.
A técnica de Hughes é tão sofisticada quanto a sua visão é profunda. Ela utiliza uma variedade de meios, misturando óleos, acrílicos e tintas spray diretamente sobre a tela. Esta abordagem multimédia cria texturas e efeitos que enriquecem a complexidade visual das suas obras. As escorrências, os salpicos e os traços espontâneos não são meros efeitos estilísticos, mas participam na criação de um espaço pictórico que reflecte a natureza dinâmica e fluida da nossa experiência perceptiva.
Em “Hot Coals” (2024), o sol central que parece assar a vegetação circundante cria uma tensão palpável entre calor e destruição, entre vitalidade e ameaça. Esta dualidade não é apenas temática, está inscrita na própria matéria da pintura, onde as camadas espessas contrastam com zonas mais fluidas, criando uma superfície que convida tanto ao toque como ao olhar.
A evolução recente do seu trabalho para formatos mais verticais é particularmente interessante. Esta orientação não convencional para paisagens tradicionais não é uma simples escolha formal, mas uma maneira de perturbar a nossa relação habitual com a paisagem. Ao privilegiar a verticalidade, Hughes obriga-nos a abandonar a posição de espectador desapegado para nos envolver numa relação mais direta e mais encarnada com a obra.
O tratamento das flores nas suas obras recentes revela uma nova dimensão da sua investigação. Em “My Natural Nyctinasty” (2021), uma flor monumental fecha as suas pétalas num gesto que evoca tanto a proteção como o aprisionamento. Esta imagem poderosa recorda-nos que a nossa percepção do mundo natural está sempre colorida pelos nossos próprios estados emocionais e projeções psicológicas.
A sua paleta cromática, que à primeira vista pode parecer intuitiva, revela uma compreensão sofisticada da fenomenologia da cor. As combinações que ela cria não são arbitrárias, mas servem para evocar experiências perceptivas específicas. Um violeta profundo pode sugerir profundidade espacial ao mesmo tempo que evoca um estado emocional, enquanto um amarelo elétrico pode criar uma sensação de proximidade imediata.
Em “Burn Out” (2024), Hughes explora os limites da nossa perceção do calor através da cor. Em quase três metros de largura, cria uma sinfonia de vermelhos e laranjas que não representam simplesmente o calor, mas fazem-nos senti-lo de maneira quase física. Esta capacidade de transformar uma sensação térmica em experiência visual ilustra perfeitamente a sinestesia natural da nossa perceção, que Merleau-Ponty considerava fundamental.
A abordagem de Hughes face à perspetiva é particularmente reveladora da sua compreensão da perceção espacial. As suas paisagens apresentam frequentemente vários pontos de vista simultâneos, criando espaços impossíveis que desafiam a nossa compreensão racional. Esta multiplicação das perspetivas não é um simples jogo formal, mas uma exploração da natureza fundamentalmente ambígua da nossa experiência espacial.
Em “Swelling” (2024), ela cria uma onda monumental que parece desenrolar-se em várias dimensões simultaneamente. Esta obra não representa simplesmente uma onda, captura a experiência vivida de se encontrar perante uma força natural esmagadora. A composição faz-nos sentir fisicamente o vertigem e a instabilidade, ilustrando como a nossa perceção do espaço é inseparável da nossa experiência corporal.
A importância do vazio nas suas composições merece também ser destacada. Os espaços negativos nas suas obras nunca estão realmente vazios, mas vibram com uma energia potencial. Em “Trust and Love” (2024), o espaço entre duas árvores entrelaçadas torna-se uma presença ativa que estrutura toda a composição. Este tratamento do vazio recorda a concepção merleau-pontiana do invisível como parte integrante do visível.
A forma como Hughes trata as bordas e os quadros nas suas obras é particularmente significativa. Frequentemente, ela cria molduras pintadas que enquadram a cena principal, criando uma mise en abyme que nos convida a questionar a própria natureza da perceção e da representação. Estas molduras funcionam como limiares perceptivos, pontos de passagem entre diferentes níveis de realidade.
O seu processo criativo, que começa sem um plano pré-estabelecido e se desenvolve de forma orgânica, reflete a própria natureza do nosso envolvimento perceptivo com o mundo. Cada tela torna-se uma viagem de descoberta, uma exploração das possibilidades infinitas da perceção que emerge progressivamente através do ato de pintar.
Em “I’m a Fan” (2024), ela brinca com a nossa perceção do movimento através da representação de palmeiras agitadas pelo vento. As folhas que parecem ondular perante os nossos olhos não são simplesmente representadas em movimento, criam uma sensação cinestésica que envolve todo o nosso corpo. Esta capacidade de transformar uma experiência visual em sensação corporal está no centro da sua prática.
As paisagens de Hughes não são simplesmente lugares para contemplar, mas espaços de experiência ativa onde o espectador é convidado a envolver todo o seu ser sensível. Em “Float Along” (2024), as bordas que enquadram a composição criam um efeito de portal que nos convida literalmente a entrar no espaço da pintura. Este convite a uma viagem perceptiva é característico da sua abordagem que nunca se contenta com a simples representação.
A sua série recente “Tree Farm” (2024) leva ainda mais longe esta exploração da perceção incorporada. As árvores que ela pinta não são simples objetos naturais, mas presenças vivas que parecem respirar sobre a tela. Em “Wits End” (2024), um salgueiro chorão de ramos tortuosos torna-se uma metáfora do nosso próprio corpo sensível, as suas ramificações evocando o nosso sistema nervoso.
Os últimos desenvolvimentos do seu trabalho incluem também uma exploração da cerâmica, onde ela transpõe a sua visão única para a terceira dimensão. Estas esculturas, embora novas na sua prática, prolongam naturalmente a sua investigação sobre a perceção incorporada, oferecendo ao espectador uma experiência ainda mais diretamente física das suas formas orgânicas.
Shara Hughes conseguiu criar uma linguagem visual única que transcende os limites tradicionais da paisagem para explorar os próprios fundamentos da nossa experiência perceptiva. As suas obras não se limitam a representar o mundo, elas convidam-nos a percebê-lo novamente, com uma frescura e uma intensidade que transformam a nossa compreensão do que a pintura pode ser hoje. O seu trabalho lembra-nos que a verdadeira inovação artística não reside na novidade superficial, mas na capacidade de renovar o nosso olhar sobre o mundo e sobre nós mesmos.